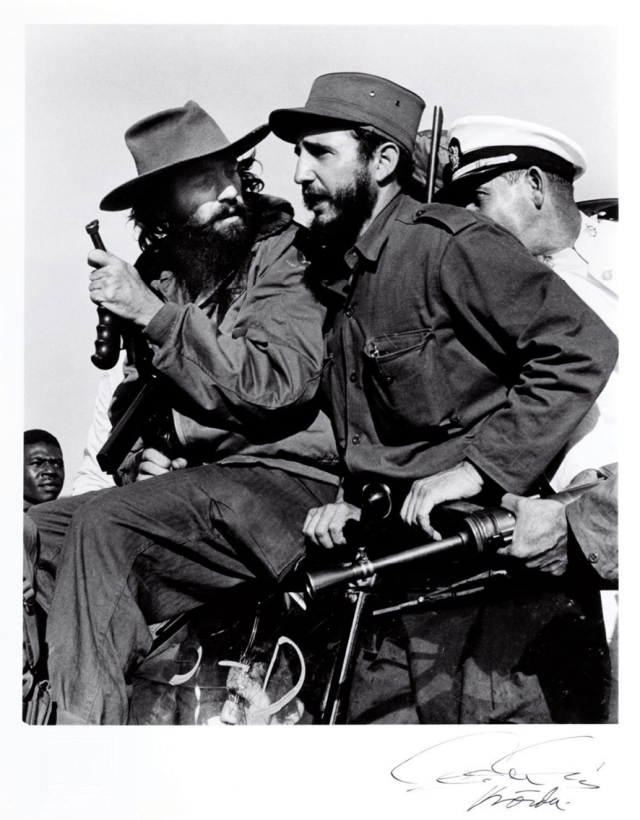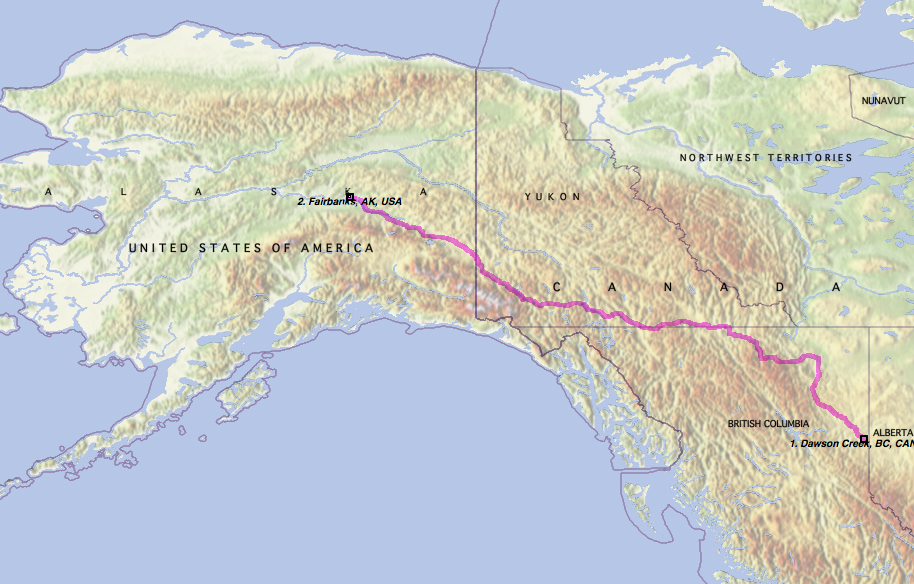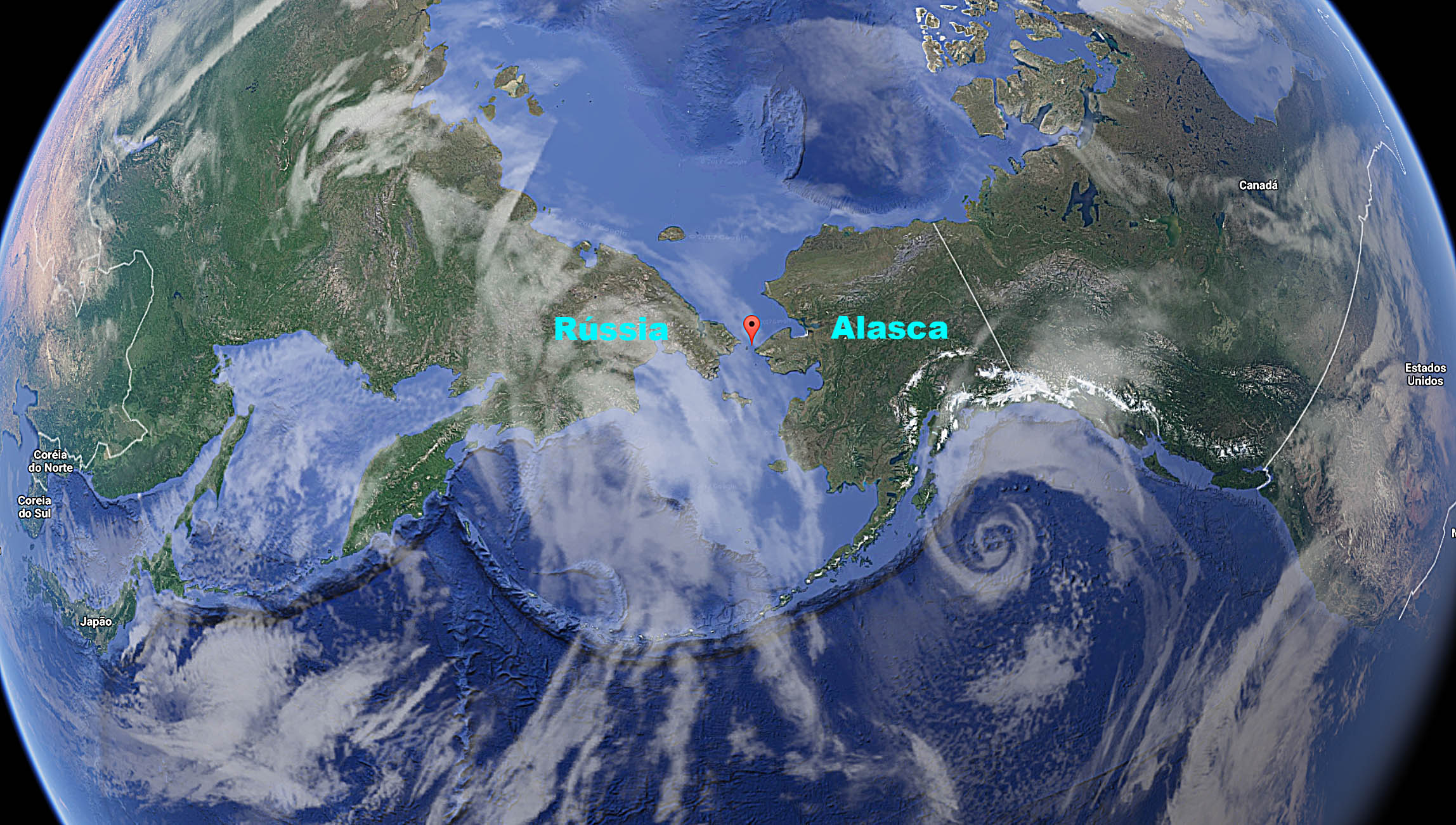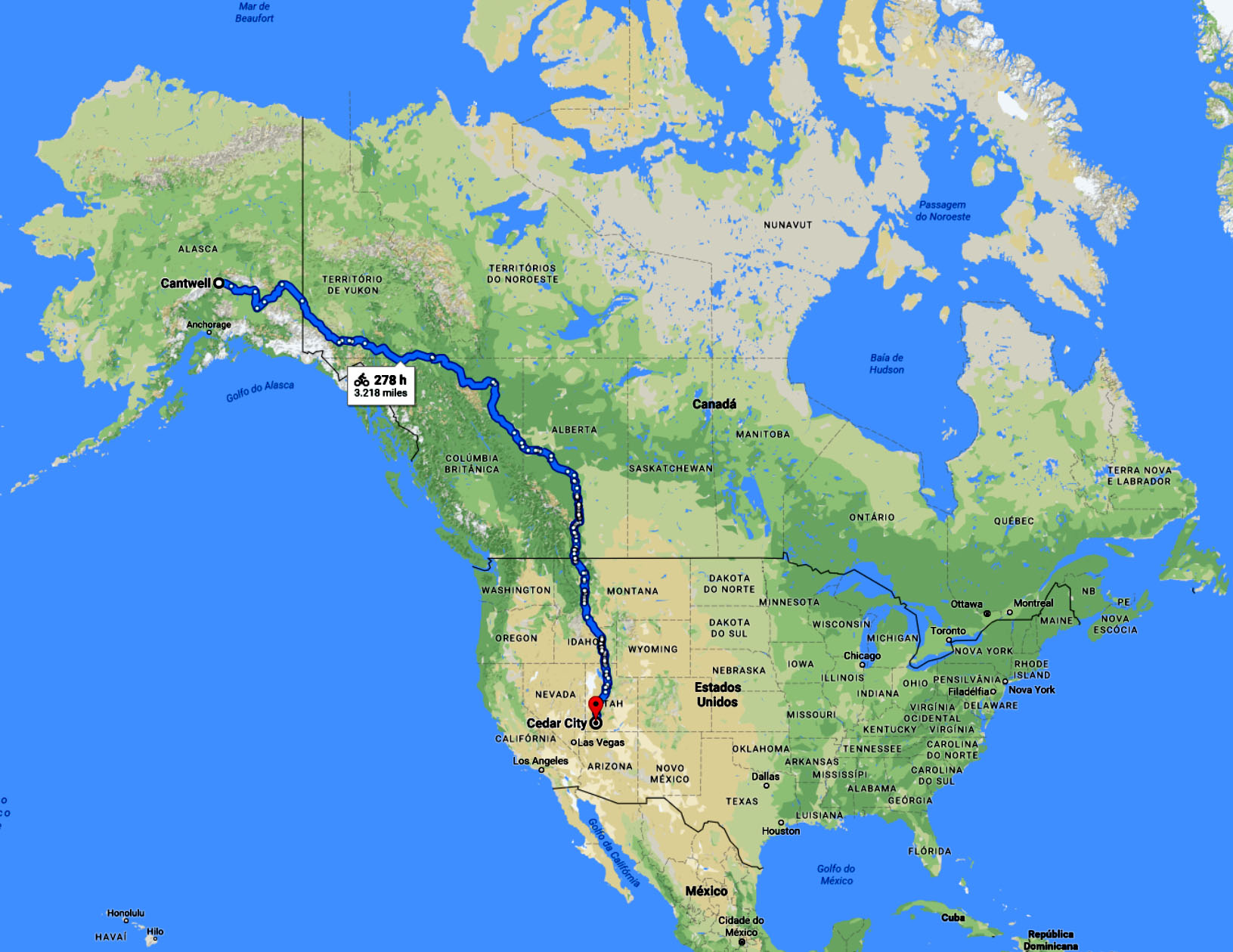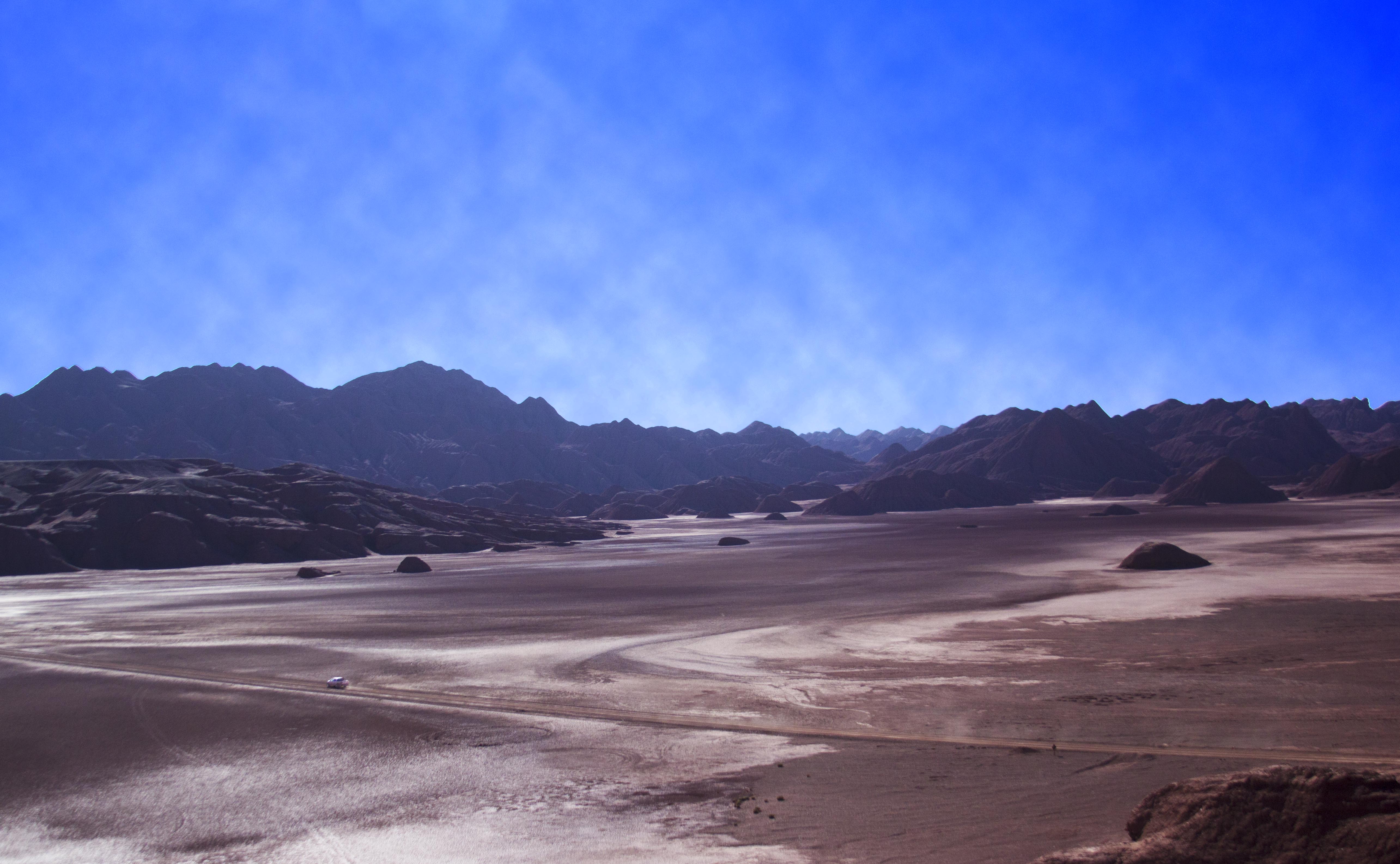ANDAR … ANDAR … ANDAR
Além de saudável, andar é um procedimento bastante simples. Qualquer criança o aprende em torno de um ano de vida, antes mesmo de falar mamãe ou papai. Este procedimento consiste de movimentos das pernas, repetidos e alternados ciclicamente, os quais chamamos passos, que resultam, em condições normais de aderência do solo, no deslocamento do corpo para a frente. Para andar basta dar o primeiro e o segundo passo, e seguir repetindo essa sequência indefinidamente. Simples assim.

Foi desse modo, andando por 90 km sobre um glaciar, que em 20 de junho de 2019 cheguei ao acampamento base do K2. Mas para bem contar essa história voltarei três semanas atrás… quando enfim consegui voar num Airbus 380-800, o maior avião comercial em atividade atualmente. É enorme. Pareceu-me bastante estável no ar. Mas apesar de ansiosamente esperado, não tenho muitas lembranças desse voo. Logo após o ”jantar” servido a bordo, tomei 2 mg de rohypnol, acomodei a cabeça num travesseiro e só acordei 12 horas depois, sobrevoando o Golfo Pérsico, já nos preparativos para o pouso em Dubai. Desci, esperei um pouco, tomei a conexão e quatro horas mais tarde finalmente estava em Islamabad, capital do Paquistão.

Era fim de junho, um calor dos infernos, ultrapassando os 40 graus. Islamabad é bem diferente de Kathmandu, a única capital asiática que conhecia até então. No longo trajeto do aeroporto ao hotel no centro, em relação à capital do Nepal, encontrei uma cidade mais vazia, mais limpa, com um trânsito bem menos caótico, com ruas e avenidas retas, largas e bem cuidadas. Depois soube que Islamabad foi planejada e construída para abrigar a capital do país nos anos 1960, igual foi Brasília.

No hotel encontrei os até então desconhecidos que compartilhariam comigo 180 km de maus caminhos sobre as geleiras do Glaciar Baltoro: Arlete, Arlindo, Augusto e Bernardo, todos brasileiros. Encontrei também um velho conhecido: Max, argentino, que foi nosso guia durante todo o trekking.

Nosso plano era partir dali e após três semanas chegar ao acampamento base da chamada Montanha Selvagem: K2, a segunda mais alta elevação do planeta. A primeira grande dificuldade dessa empreita já havia sido superada. Por incrível que pareça, um dos grandes obstáculos da expedição foi conseguir o visto de entrada no Paquistão, e em seguida obter a permissão para o trekking até o K2. O Paquistão aparece frequentemente ocupando os primeiros lugares em listas de países que mais dificuldade impõem para emissão de visto para turistas. Aliás, o meu entendimento é que o governo paquistanês não quer turistas no país. Esse processo foi longo, penoso, tão chato e difícil que simplesmente não vou descreve-lo aqui. Quero esquecê-lo.

A segunda grande dificuldade foi: no meio do caminho tem a Caxemira (Kashmir). Originalmente era um vale ao sul do extremo ocidental dos Himalaias. Tecnicamente, é o início da Cordilheira do Himalaia no sentido ocidente -> oriente. Atualmente, a Caxemira é uma área muito maior, sem fronteiras claramente definidas, que engloba a Cordilheira Caracórum (Karakoram Range, extensão do Himalaia), disputada palmo a palmo por três potências nucleares – Paquistão, Índia e China – desde meados do século XX. E para complicar um pouco, além de ser uma região com forte presença do Taliban, existe um movimento separatista querendo transformar a Caxemira em uma república islâmica autônoma. Em fevereiro de 2019, enquanto me organizava para a expedição, a tensão Paquistão/Índia por causa dessa disputa subiu às alturas, com a Índia deslocando meio milhão de soldados para região sob seu controle e o Paquistão fazendo o mesmo do outro lado. Para chegar ao K2 partindo de Islamabad há que se cruzar de sudoeste a nordeste toda a Caxemira, passando por Abbottabad (cidade onde foi morto Bin Laden), até a fronteira com a China. O governo paquistanês não permite que estrangeiros andem desacompanhados de oficiais do exército na Caxemira, inclusive na base do K2. Durante 100% do nosso trek (ou quase) andamos com um oficial paquistanês treinado nas montanhas da região com a função de um agente de ligação (liaison officer) entre nós e o exército paquistanês. O sujeito, apesar de tenente, era mesmo boa praça. Ficamos amigos trocando conversas dia após dia pelos caminhos gelados que percorremos. Na região de Abbottabad ao longo de dezenas de quilômetros fomos escoltados por um veículo militar com soldados ostentando seus icônicos AK-47. Durante o trek, mesmo nas regiões mais remotas da Karakoram, a cada 10 km mais ou menos cruzávamos com soldados paquistaneses em patrulha, que invariavelmente conversavam em urdu com nosso oficial de ligação, checavam nossos papeis e nos liberavam para prosseguir. Como diz o Max, se tem um lugar que não é Nutella, esse lugar é a Caxemira.

Certa vez, há apenas dois dias do acampamento base, eu andava sozinho. Foi um dia longo e difícil. Ventava e nevava muito, e acabamos nos espaçando mais do que o prudente uns dos outros. Estava um pouco inseguro quanto ao trajeto, até que vi um acampamento militar com três barracas e alguns latões de combustível por perto. Um soldado me avistou e veio em minha direção, com seu inseparável fuzil apontado para mim. Pensei que algo ruim iria acontecer. Estava só, sem nosso oficial de ligação, ou seja, eu era um estrangeiro, infringindo a lei, numa zona militar instável do Paquistão. Tentando aparentar calma e tranquilidade, perguntei se estava no rumo certo para Concordia (nosso próximo acampamento), o que, de fato, queria saber. E não é que o milico foi super gente boa! Não me pediu nenhum documento, falou que em duas horas estaria em Concordia, e me deu orientações sobre como chegar. Ele deve ter percebido que eu tinha muita sede. Tirou uma garrafa enorme com água de sua mochila e me deu para levar comigo. Logo em seguida chegaram mais dois soldados. Sorridentes, perguntaram de onde eu era. Disseram para quando voltar ao Brasil, falar que o Paquistão é um lugar de paz. Ufa!

Depois que entramos pelo Glaciar Baltoro, os soldados vestiam branco, o que me chamava muito a atenção. Não visualmente, mas pelo inusitado. Montanhistas precisam ser vistos. Por isso as roupas, acessórios, barracas são quase sempre vermelhas, amarelo ouro, laranja. Mas parece que soldados não gostam muito de aparecer. Na selva usam verde. No deserto, cores areia. E por aqui só usavam branco. Roupas brancas, capacetes brancos, luvas brancas, barracas brancas, tudo era branco. Apenas as pesadas metralhadoras e os fuzis destoavam. Sinto muito não ter tido permissão para tirar sequer uma foto deles. Por mais que xavecasse o oficial de ligação para interceder junto a uma guarnição, não consegui nada. Só na memória tenho as imagens desses soldados. Chegam de helicóptero com pouca comida, muito armamento e um rádio para se comunicarem. Ficam dois meses andando para lá e para cá não sei exatamente vigiando o que, para depois serem substituídos por outro grupo que vem fazer as mesmas coisas.

Por fim, a terceira grande dificuldade foi andar 182 km pela Cordilheira Caracórum, dos quais 120 km sobre o Glaciar Baltoro, longe de qualquer assentamento humano, caminho obrigatório para chegar ao K2 pelo lado paquistanês.

A caminhada começou, de fato, em Askole, um vilarejo com não mais que 50 casas, no coração da Caxemira. É conhecido como o mais alto e remoto assentamento humano no Paquistão, porta de entrada para quatro das 14 montanhas com mais de 8 mil metros de altura no planeta, entre elas o K2. Os primeiros colonizadores ingleses chamavam esse povoado de last settlement on the Indian subcontinent. Mar para poder começar a andar tive que fazer um percurso de 686 km entre Islamabad e Askole em três longos dias rodados num jipe Toyota velho, tipo bandeirantes, pela porção inicial (ou final, dependendo do sentido) da celebrada Karakoram Highway.
Este foi um momento mágico e ansiosamente aguardado. Secretamente, no fundo de uma porção escura e pantanosa da minha mente, cheguei a questionar se o meu verdadeiro objetivo nessa viagem não seria trafegar esse trecho. Tenho enorme fascínio por rodar em estradas longas, penosas e remotas. Conforme já comentei em um post anterior, percorri de cabo a rabo algumas das mais icônicas rodovias das Américas: Alaska Highway, Ruta Panamericana, U.S. Route 66, Rodovia Transamazônica, BR-319, Carretera de la Muerte, Ruta 40, Carretera Austral. Agora, chegou a vez da tão aguardada Karakoram Highway.
Esta rodovia liga a cidade chinesa de Kashgar a Islamabad através de 1300 km de um caminho que mistura trechos asfaltados com outros de cascalho e terra, atravessando cordilheiras, vales, rios e lagos. Em alguns trechos ela se sobrepõe ao ramo da Rota da Seda que por séculos serviu de caminho para caravanas carregadas de mercadorias transitarem entre o platô tibetano e o Oceano Índico. Na construção da rodovia, 1958 a 1978, mais de mil trabalhadores morreram vítimas de quedas, avalanches e soterramentos. Este é o caminho pavimentado mais alto da Terra, chegando a atingir 4.693 metros de altura no Passo Khunjerab, fronteira sino-paquistanesa. A Karakoram Highway tem uma beleza selvagem e desconcertante. Atravessa uma cordilheira saturada de picos nevados com 6, 7, 8 mil metros de altitude. Uma verdadeira overdose de montanha! Quanto mais longe de Islamabad, mais estreita e sinuosa ela fica. Há trechos onde só passa um veículo por vez. Se vem algo no sentido contrário, tem que negociar quem passa e quem espera. O cenário é de deserto alto, com picos nevados lá em cima e vilarejos muçulmanos cá em baixo, repletos de um comércio miúdo de panelas, parafusos, frutas, verduras, animais vivos e mortos, tecidos, sandálias, barbearias, mesquitas, postos de gasolina, escolas de meninos, etc. Não tem mulheres nas ruas. Me parece (não sou especialista nesse assunto) que elas ficam em casa, ou em trabalhos na lavoura. A certa altura, coloquei a cabeça para fora do jipe para contemplar o Monte Nanga Parbat, uma das cinco “8 mil” do Paquistão. Não pude me esquivar da lembrança dos 11 montanhistas que foram fuzilados enquanto dormiam no seu campo base, em 2013. No dia seguinte ao massacre, o Taliban assumia a responsabilidade pelas mortes, e seu porta voz dizia: Through this killing we gave a message to international community to ask U.S. to stop drone strikes. (Parece que o apelo não foi ouvido.) Sim, eu estava na Caxemira.

Saímos de Islamabad às 6 da manhã e paramos para dormir às 22 horas, 391 quilômetros adiante, em Chilas: uma vila que na última contagem populacional tinha 1.770 habitantes. Na manhã seguinte seguimos ainda na Karakoram Highway por mais 90 quilômetros até deixarmos a estrada por uma bifurcação à direita. Demonstrando que por pior que o caminho seja ele sempre pode piorar ainda mais, pegamos a S1 Strategic Highway rumo a Skardu.

O que era medonho tornou-se tenebroso. O caminho ficou ainda mais sinuoso e extremamente acidentado. Por 170 quilômetros a margem esquerda do estreito leito da rodovia de cascalho era formada por uma sucessão de paredões instáveis sujeitos a deslizamentos de terra e rochas a qualquer momento. À direita, a pista terminava sem nenhuma proteção. As rodas da direita do jipe passavam a um palmo de enormes desfiladeiros de centenas de metros onde lá em baixo corria o Rio Indo. [Piada pronta: alguém falou “espero que depois do K2 encontremos o Rio Voltando.”] Esse é o rio mais importante do país. Nasce nas geleiras do Tibete, corta toda a Caxemira e corre rumo sudoeste para o Oceano Índico. No começo da noite, chegamos emocionalmente destruídos a Skardu, uma cidade grande para a região. Esse é um centro comercial local, sede do Distrito de Skardu. Deu para comer um churrasquinho de galinha legal no jantar.

No dia seguinte partimos para o último trecho “rodoviário” da balada. E mais uma vez a história se repetiu. O que era tenebroso tornou-se aterrador. Gastei acima meu repertório de adjetivos qualificativos da sensação de medo, de modo que tudo o que eventualmente escrever agora não descreverá com fidelidade o pânico que sentia dentro daquele jipe. Rumamos para Askole, porta de entrada do trek. O caminho era tão acidentado como o do dia anterior. Só que chovia mmuuiittoo, o tempo todo. Água e lama escorriam pela encosta à esquerda, atravessavam o caminho e caiam feito cachoeira pelos precipícios à direita, em direção ao Rio Indo. Nesse cenário correu meu jipinho bandeirantes. Chegamos com chuva forte no final da tarde. O motorista era muito habilidoso. Seleção natural. No dia seguinte veio a notícia que um jipe que saiu de Askole duas horas depois de nós caiu precipício abaixo com 4 passageiros, todos mortos. Também soubemos que o caminho foi obstruído por vários dias por conta de um deslizamento de terra num trecho por onde havíamos passado algumas horas antes. Sim, estava na Caxemira.

Armamos acampamento debaixo de chuva. Choveu a noite toda, inclusive dentro da barraca. Meu saco de dormir molhou na cabeça e nos pés, nada muito grave. Amanheceu chovendo. Resolvemos esperar mais um dia ao invés de sairmos para o trekking como planejado. O caminho estava muito instável, com deslizamentos e pedras rolando nos primeiros quilômetros da trilha. À noite a chuva parou e o dia amanheceu nublado, porém estável. Finalmente começamos a andar!

De Askole (3.000 m) em diante não havia nenhum povoado de apoio. Contávamos com carregadores (porters), verdadeiros heróis, moradores de Askole em sua maioria, que transportavam para nós alimento e barracas.
No primeiro dia de trekking andamos 20 km, metade debaixo de uma chuva fina, até chegar ao acampamento de Jhula Nala (3.159 m) 8 horas depois. No terço final do percurso tivemos que cruzar transversalmente o Glaciar Biafo em sua ponta sudeste, um tormento de gelo e rocha dois quilômetros largo que consumiu três horas de caminhada.

No dia seguinte, outras 8 horas foram gastas caminhando mais 20 km até o acampamento de Paiju (3.600 m), onde passamos um dia e meio parados para descansar e, principalmente, ajudar nossa aclimatação.

De lá montamos no Glaciar Baltoro e percorremos longitudinalmente todos seus 60 km de extensão em três dias extenuantes. O Baltoro é um rio de rocha e gelo caoticamente misturados. Dormimos nos acampamentos de Urdukas (4.011 m), Gore 2 (4.273 m) e Concordia (4.600 m). Para quem gosta de estar rodeado por montanhas, esse caminho é um ESPETÁCULO INESQUECÍVEL, onde os riachos formados pelo degelo, as rochas rolando moraina abaixo e o estalar do imenso glaciar acomodando seus blocos de gelo não nos deixam esquecer que o solo está vivo e em constante transformação. Possivelmente, esses foram os 60 km mais incríveis que percorri na vida. E a beleza vai num crescente brutal. No primeiro dia sobre o glaciar surgem as majestosas Trango Towers (galeria abaixo), formações pontiagudas de granito com mais de 6 mil metros de altitude.





No segundo dia começam a ser avistados aqui e acolá (galeria abaixo) os vários Gasherbrums, o Broad Peak, o K1. Esse último, conhecido há séculos pelos povos locais como Masherbrum, uma montanha altamente técnica e pouquíssimas vezes escalada, foi a primeira alta montanha (7,891 m) catalogada pelos ingleses na Karakoram Range, daí o nome K1 (advinha qual foi a segunda…).





E no terceiro dia chega-se, no final do Glaciar Baltoro, ao clímax de toda essa caminhada, um lugar absolutamente ímpar na Terra, um dos mais espetaculares acampamentos de alta montanha existentes: Concordia. Esta é uma confluência do Baltoro com mais outros três glaciares formando um gigantesco e desmesurado anfiteatro, um verdadeiro museu a céu aberto de contornos, linhas e formas. Num raio de 15 quilômetros de Concordia há 41 picos nevados acima de 6.500 m, metade deles sem nome e ainda não escalados. Entre esses, quase ao alcance das mãos estão quatro das mais altas montanhas do planeta: K2, Broad Peak e os Gasherbrums I e II.

Nevava muito, muito mesmo, quando chegamos a Concordia. Ficamos ali dois dias extasiados com a paisagem. Montanhas são simplesmente acúmulos de rocha, areia e gelo. Mas o acaso produziu aqui um conjunto de formas que o melhor dos arquitetos não conceberia.





No terceiro dia em Concordia saímos às 5 horas rumo ao acampamento base do K2. O sol não havia nascido ainda, mas já era dia no início da caminhada. Deixamos Concordia subindo uma inclinação nevada rumo norte, que dava acesso ao Glaciar Godwin-Austen. Ao seu final, 12 quilômetros à frente, estava a base do K2, 5.050 m acima do nível do mar. Quanto mais andávamos, mais a montanha se agigantava à nossa frente. Às 8 da manhã estávamos no campo base do Broad Peak, a tempo de tomar café com uma garota com menos de 30 anos, que algumas semanas depois se tornaria a primeira alemã a atingir o cume do K2, sem oxigênio complementar e autônoma, e agora se prepara para cruzar a Antártica sozinha e à pé. Deixamos a garota para trás e ao meio-dia chegamos ao K2 Base Camp. Emocionalmente, foi o clímax de toda essa viagem. Finalmente, depois de tanto planejamento e esforço, estava aos pés da Montanha Selvagem, um dos lugares mais celebrados do montanhismo mundial. Mas não posso deixar de dizer que esse foi o pior lugar para se avistar a montanha dos últimos dias.

A volta para Concordia foi tensa. A neve ficou muito fofa devido ao sol desde as primeiras horas da manhã. De rotina, as pernas afundavam até o joelho na neve, enquanto caminhávamos de volta. Às vezes até o meio da coxa. Foi muito cansativo. Para complicar, no meio da tarde o tempo fechou, começou a nevar e ventar muito e num dado momento, sem perceber, dei alguns passos sobre um pequeno lago que tinha sua superfície congelada e camuflada pela neve. Claro que a cobertura quebrou e afundei até quase a cintura na água gelada. Nessa hora o Max falou: ande o mais rápido que puder enquanto consegue sentir as pernas. Foi o que fiz. Uma hora depois estava em Concordia. Para brindar, tomei um drink que improvisei com o que havia à mão: Karacointreau, delicioso mix de álcool gel e Tang, servido com cubinhos de um secular gelo glacial. Quem disse que não tem bebida no Paquistão?

Os próximos seis dias foram de retorno para Skardu, exceto para o Max que ficou em Concordia e semanas mais tarde chegou ao cume do K2. Meus companheiros voltaram para o Brasil de Skardu. Eu ainda não sentia que era hora de voltar. Convenci um velho senhor morador local a me levar num jipe por um parque sensacional ali da região: Deosai Nartional Park . É um enorme platô a mais de 4 mil metros de altitude. Segundo um folheto local, é o second highest plateau of the world, cheio de himalayan brown bears, himalayan ibexes, snow lepards, red foxes e himalyan golden foxes. Não vi nenhum deles. Mas acredito que estavam por lá. Apenas encontrei centenas de himalayan marmots, que não estavam no folheto, e são uns bichos muito parecidos com os prairie dogs do oeste estadunidense. Meu guia era uma figura ímpar. Paquistanês. Não sei por que, estava numa vibe minimalista. Falava comigo apenas três palavras, em inglês: go, stop e toilet. Passamos três dias andando pelo parque e nos comunicando por meio do olhar e dessas três palavras. Era tudo o que precisávamos. Ele tinha um toca fitas doutrinário no jipe que tocava o tempo todo.
Findo o circuito no Parque, não tive palavras para agradecer. Uma lágrima nos olhos e um forte abraço disseram tudo. Voltei para Islamabad e no mesmo dia tomei o Airbus de volta para Guarulhos.
SUPLEMENTO FOTOGRÁFICO: Paquistaneses










NEM TUDO É REFRESCO NAS GELEIRAS DO HIMALAIA…
Era fevereiro de 2018, inverno ainda no hemisfério norte. A jornada foi longa e tortuosa. Custou-me quase 24 horas entre voos e conexões de São Paulo para Kathmandu. Mais uma manhã num teco-teco para Badrapur. Mais dois dias inteiros num jipe por um caminho estreito, lindo e penhascoso rumo leste. Até que finalmente avistei as bandeirinhas anunciando que estava próxima a chegada a Taplejung, cidade no extremo leste do Nepal.
Carregava apenas uma mochila com uns 13 kg de equipamento pessoal para um trekking de altitude e minha câmera fotográfica.
Tap lejung é uma cidade grande para os padrões nepaleses. Cheguei tarde da noite e fui para um pequeno hotel. No dia seguinte, ao colocar os pés na rua, fui atacado por uma multidão sorridente que despejou em mim toneladas de talcos de diferentes cores.
lejung é uma cidade grande para os padrões nepaleses. Cheguei tarde da noite e fui para um pequeno hotel. No dia seguinte, ao colocar os pés na rua, fui atacado por uma multidão sorridente que despejou em mim toneladas de talcos de diferentes cores.
Era o Holi Festival, uma festa que acontece no Nepal e Índia ao final do inverno sem, ao meu ver, caráter religioso. As pessoas se divertiam muito e demorei a entender o que acontecia.
Martin (EUA) e Chris (Austrália) me esperavam em Taplejung. No dia seguinte, montamos uma estrutura bem enxuta: Tsering Sherpa e três carregadores nepaleses, barracas, tralha básica para cozinha, mantimentos para alguns dias. Tsering é um excelente guia, que além de montanhista experiente, conhece cada centímetro quadrado daquela região. No próximo dia iniciamos a caminhada.
A partir de então estabeleci uma rotina diária que chamei 6-7-8-9. Acordava às 6 horas, desarmava a barraca e arrumava a mochila para o dia. Às 7 preparava um lanche para o dia e tomava o café da manhã: chá tibetano (uma espécie de chá preto com manteiga de iaque, açúcar e sal), chapati (pão feito com trigo integral, sal, açúcar e óleo, assado em uma frigideira) e ovo frito. Às 8 começava a caminhar. Mais ou menos 9 horas mais tarde, começo do anoitecer nessas latitudes, parava, montava acampamento, preparava o jantar e dormia.
Andar das 8 às 17 horas, para mim, não era fácil. Estava no coração do Himalaia, onde nada, absolutamente nada, é plano. A região é cortada por dezenas de pequenos rios que correm do norte para o sul. Como eu andava do oeste para o leste, invariavelmente, todos os dias, tinha que descer centenas de metros, cruzar um rio e subir pela outra encosta por outras centenas de metros. Com frequência, isso se repetia uma, duas e até três vezes no mesmo dia. Além disso, a altitude foi aumentando ao longo do percurso, o que tornava o fôlego cada vez mais curto. E para piorar, a partir doe 3.500 metros, mais ou menos, nevava, muito.
Assim foi o trek. A cada dia caminhava até um pequeníssimo vilarejo, conhecendo lugares e interagindo – apesar da barreira do idioma – com pessoas maravilhosas. E passaram Mitlung (1.542 m), Chiruwa (1.261), Sukethum (1.573), Amjilosa (2.384), Gyabla (2.716), Ghunsa (3.444)… agricultura de subsistência, hortaliças, galinhas, coelhos, cabras, crianças correndo para lá e para cá, mulheres na lavoura, homens no pastoreio.
Em Ghunsa o maior luxo: um dia inteiro de descanso com direito ao primeiro banho desde que saí de Kathmandu. Ok, foi um balde com água morna. Mas foi maravilhoso. Possivelmente meu melhor banho nos últimos anos. Tudo é muito relativo.
A partir de Ghunsa o ambiente ficou bastante hostil; muito alto, muita neve, muito frio. Talvez essa seja a região mais remota do Nepal. Dormi em Kangpachen (4.050), depois em Lhonak (4.780), dois assentamentos desertos, usados por pastores apenas no verão.
Até que finalmente, 14 dias de caminhada a partir de Taplejung, percorridos 102 quilômetros, com um ganho acumulado de altitude de 7.298 metros, enfim cheguei ao campo base do Monte Kanchenjunga (5.132 m), a terceira mais alta montanha do mundo! Foi o primeiro “8 mil” do trekking, visto de frente, enorme, sereno, majestoso. Nesta noite, a temperatura chegou a -17 graus centígrados DENTRO da barraca! A menor temperatura de toda a caminhada. Inverno no Himalaia! Me consolei ao lembrar que estava mais quente que o freezer lá de casa, que costuma marcar 18 negativo.
Um dos embaraços que passei nessa caminhada acontecia toda manhã nesses últimos dias. Se algum fabricante te disser que produz botas que se mantêm secas por dentro em qualquer terreno é fake news. Não há como manter as botas secas após dias de caminhada no gelo. Mesmo porque se elas forem impermeáveis o suor dos pés certamente vai molhar suas meias, e daí o interior das botas. E botas transpiráveis são, na prática, pura ficção. Obviamente, as minhas se molharam dias atrás, em algumas das poças d’água que pisei inadvertidamente ao longo da caminhada.
Botas, sempre, passam a noite conosco, dentro da barraca. Mas a barraca era um freezer, e as botas úmidas congelavam durante a noite. Na manhã seguinte pareciam dois blocos de gelo. Toda manhã tinha que golpeá-las com um grosso galho de árvore para amolecerem e conseguir calçá-las. Levava cerca de uma hora de caminhada intensa até que as botas esquentassem e ficassem, apenas, molhadas. Alguns dias depois descobri que deixá-las à noite por horas a uma distância prudente de um fogo feito no chão melhorava bem minha qualidade de vida no dia seguinte.
O Kanchenjunga fica no extremo leste do Nepal, na fronteira com a Índia. De lá fiz meia volta para rumar oeste na direção do campo base do Monte Makalu, a próxima montanha com mais de 8 mil metros de altitude do trekking.
Voltei pelo mesmo caminho para Ghunsa. A partir de lá, cruzei o Nango La (4.776 m) e dois dias depois dormi em Yangma Kharka (3.741). De lá, desci por um bosque nevado incrivelmente igual à fantasia que eu tinha sobre os caminhos que Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mal faziam nas histórias que me contavam na infância.
Aos 2.800 metros cruzei um rio e subi pela outra encosta até Olangchung Gola (3.198), cidade natal de Tsering Sherpa.
Olangchung Gola é uma vila pequena e centenária no meio de um bosque subtropical repleto de rododendros e zimbros. Com umas 40 casas, se esparrama numa encosta bastante íngreme do lado do vale que acabara de subir. No topo da encosta fica um mosteiro budista construído há 7 séculos. A menos de 10 quilômetros está a fronteira com a Região Autônoma (sic) do Tibet.
Esta vila é um entreposto da rota que liga o leste do Nepal ao Tibet. Daqui partem mercadores levando fios e tecidos de algodão, açúcar mascavo, e outros itens trazidos da Índia que são trocados principalmente por sal e lã. Cheguei com o tempo bastante nublado, muita névoa, neve úmida, quase garoa. Não fosse pelos fios elétricos que entravam pelo telhado das casas, e por alguns telefones celulares nas mãos dos locais, pensaria (sinceramente) que tinha sido abduzido por um túnel do tempo que me transportara mil anos para trás. Tudo estava muito cinzento e melancólico. Ninguém é completamente feliz num dia cinzento.
As casas têm dois pavimentos. No térreo, de pedra, ficam animais e comida estocada. Em cima, de madeira, ficam os humanos num quarto e cozinha. Ruelas estreitas com calçamento de pedra irregular se ramificam em becos com animais pastando e caldeirões soltando fumaça.
Galinhas, carneiros, um e outro cachorro andam soltos. Iaques e jumentos passam em comitiva carregados de mercadorias. Mulheres lavam roupas e louças em fontes coletivas. Crianças enlameadas se divertem correndo e gritando.
Após um dia inteiro descansando, cruzei o Lumba Sumba La (5.160 m), um passo de onde se avista o Kachenjunga ao leste e o Monte Makalu a oeste. Então, segui para Thudam (3.093), Yak Kharka (2.724), Chyamtang (2.264), Hongon (2.323), Bakim Kharka (3.020), Molun Pokhari (3.855), Dhungee Kharka (3.590), Saldim Khola (2.917), Kalo Pokhari (4.181), Grazing Kharka (4.085), Yangla Kharka (3.650), Langmale Kharka (4.445). Alguns desses lugares eram pequenos vilarejos, outros (as kharkas) eram pastos de iaques, vazios, cobertos de neve, usados só no verão. Até que finalmente, 21 dias após ter saído do campo base do Kanchenjunga, dessa vez sem banho, cheguei ao campo base do Monte Makalu (4.870 m). De lá avistei, ali pertinho, o segundo “oito mil” dessa caminhada, a quinta mais alta montanha do planeta. Ao todo, entre os dois campos base, percorri 208 quilômetros de trilhas, com 13.257 metros acumulados de subida.
O trajeto entre os dois campos base foi muito desgastante para mim. Talvez minha imunidade tenha caído nos últimos dias do percurso. Além de nós seis, havia aqui outra expedição de umas dez pessoas, mais ou menos. O fato é que peguei de alguém um resfriado que me deixou com muita tosse, secreção e cansaço.
Após um dia de descanso, prosseguindo a caminhada, fui para o Swiss Camp, 7 quilômetros ao noroeste dali, 5.185 metros de altitude. É um lugar privilegiado. O céu estava límpido, nenhuma nuvem. Ainda com sol, fazia em torno de dois graus centígrados positivos quando cheguei. Montei minha barraca num platô pedregoso. Dela via o monte Makalu (separado de mim por um vale enorme e muito fundo), os montes Everest e Lotse ao noroeste, e um glaciar enorme chegando pelo oeste. Mesmo resfriado, nele passei um dia inteiro subindo e descendo por uma geleira bastante íngreme que serviu como treinamento para desenferrujar um pouco minha técnica de escalada em gelo. Iria precisar dela nos próximos dias.
No dia seguinte, deixei o Swiss Camp para trás, rumo ao Sherpani Col Base Camp, a 5.700 metros de altura. Estava muito cansado, com bastante secreção pulmonar. O terreno era bastante acidentado no início da caminhada. Andávamos em fila indiana. Nosso guia ia à frente, seguidos de perto por Martin, Chris, eu e os porters. Devido ao cansaço, meu ritmo foi ficando cada vez mais lento. Fiquei para trás, mas ainda mantendo contato visual com o restante do grupo. Meus companheiros deixavam suas pegadas na neve, o que ajudava minha orientação na caminhada. Em torno de umas três da tarde, o céu que já estava bastante carregado, fechou mais ainda. Nuvens densas subiam de um vale à minha direita. Ventava muito. Começou a nevar intensamente. Enquanto andava por uma encosta nevada bem inclinada, escorreguei uns cinco metros morro abaixo, até conseguir parar minha progressão com a piqueta. Não consegui voltar para a trilha na perpendicular. Optei por escorregar devagar até o fundo do pequeno vale e voltar numa diagonal suave até a trilha. Mas depois de subir uns dez metros de volta, cadê a trilha? A neve apagou. E agora? Visibilidade quase zero, cinco da tarde, anoitecendo. Eu tenho um apito, desses de juiz de futebol, que fica permanentemente no fecho dianteiro superior da minha mochila, ao alcance da boca. É para essas horas. Apitei o quanto consegui. A plenos pulmões (o que não era muita coisa devido a meu estado). Mas… parece que não havia ninguém perto de mim para ouvir. Visibilidade péssima… Muito vento… Muito frio… Já não sabia para que lado caminhar.
Em momentos críticos como esse, me lembro de uma velha canção dos Doces Bárbaros: Pé quente cabeça fria. Me concentrei em movimentar os pés dentro das botas para mantê-los quentes. E para manter a cabeça fria, lembrava o tempo todo do meu mantra: ninguém morre na véspera.
De fato, não era mesmo a véspera. Às 8 da noite meu santo guia e Martin me acharam quase congelado no meio da tempestade. Saíram me procurando e conseguiram enxergar a luz vermelha piscando na minha head lamp. Segui para nosso acampamento demasiadamente lento, ajudado pelos dois. Chegamos no Sherpani Col Base Camp perto da meia-noite. Estava bastante ofegante, com tosse intensa e produtiva, estertorando nas bases pulmonares, com uma saturação de O2 muito baixa para aquela altitude. Foi difícil admitir para mim mesmo, mas esse era o quadro do edema pulmonar de altitude. A noite foi dura. Na manhã seguinte um pequeno helicóptero me levou para um hospital em Kathmandu.

Ao chegarmos no acampamento, Tsering sabia que eu não poderia continuar. Pelo telefone satelital que trazíamos organizou o resgate. Fiquei internado por cinco dias e daí uma semana estava em Campinas, sete quilos mais magro. Demorei mais de um ano para contar essa história. Só agora, 2019, após ter voltado para o Himalaia e terminado muito bem outro trek, consegui escrever esse relato. Mas essa mais recente caminhada é a história do próximo post…
SUPLEMENTO FOTOGRÁFICO: Algumas fotos que não couberam no post…




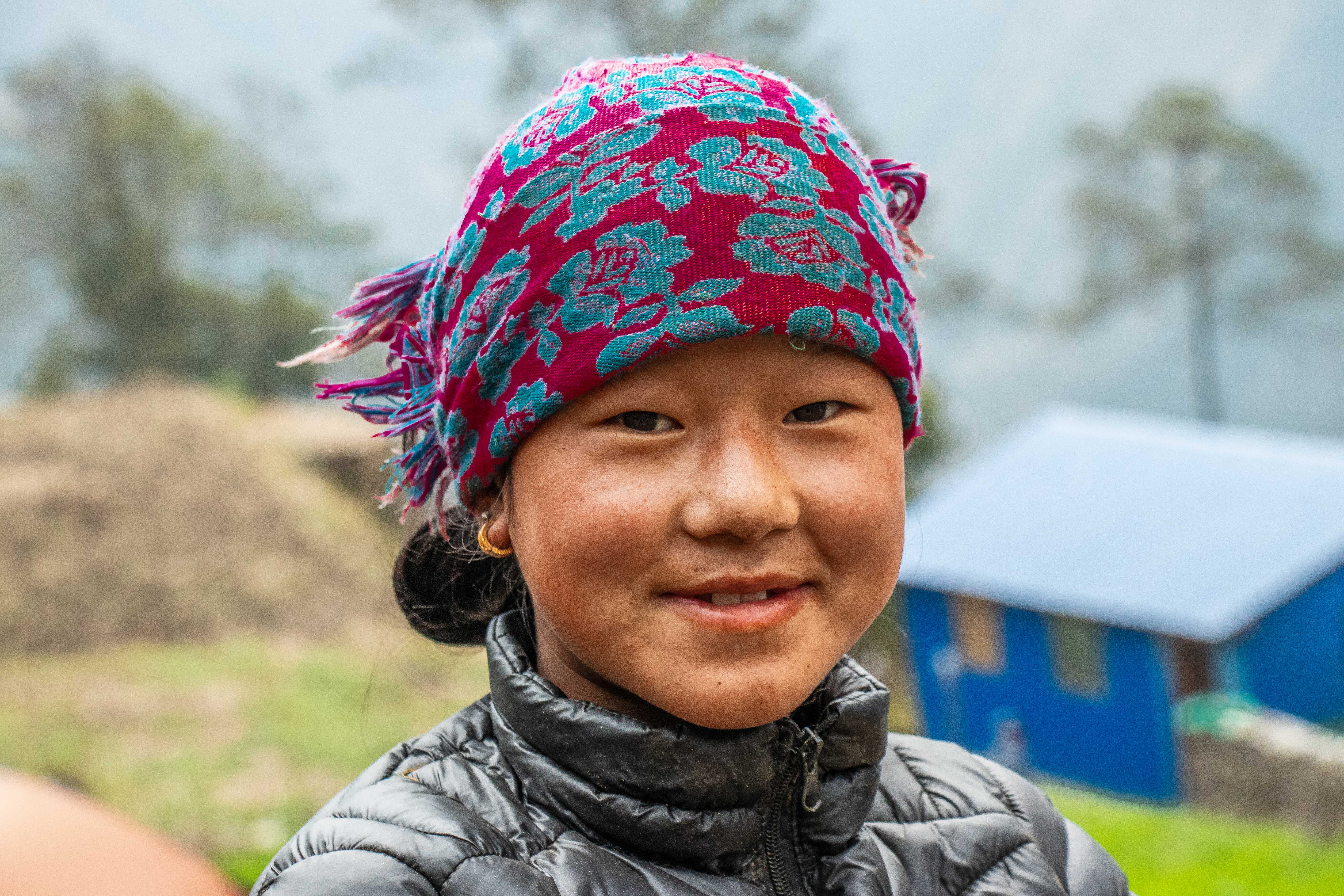






















MOTIVAÇÃO
Recém-chegado de uma longa caminhada pelo Vale do Khumbu, folheava alguns livros expostos numa prateleira do que me parecia ser um sebo, no centro de Kathmandu, capital do Nepal. Era uma típica tarde chuvosa das monções, 2013. Entre tantos outros espalhados num balaio, um livro me chamou a atenção: um relato cheio de fotos de um caminhante que andou todo o Nepal, de leste a oeste, no meio da cordilheira do Himalaia, em 2002. Devorei o livro enquanto chovia.
O caminhante refez caminhos centenários por onde comerciantes, durante séculos, vinham do Tibet com iaques carregados de queijo e manteiga para trocar por tecidos na Índia. Entre as fronteiras leste e oeste do Nepal, as trilhas passavam por vilarejos em regiões tão remotas que não pareciam pertencer a esse mundo, atravessando diversos passos nevados, alguns acima de 6 mil metros de altitude. Nessa jornada ele olhou de frente para oito das mais altas montanhas do mundo – Kajenchunga, Makalu, Everest, Lhotse, Manaslu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Annapurna – todas com mais de 8 mil metros.
Quando a chuva passou ficou claro para mim que teria que voltar ao Nepal para percorrer essa trilha. Desde então, meu pensamento andou por esses caminhos dia após dia, todos os meus dias. Colecionei relatos, textos, mapas e tudo o mais que se referia às trilhas. Discuti a logística com pessoas que fizeram essa travessia em anos posteriores. Me associei a mais dois aventureiros (ainda não os conheci pessoalmente, mas por email parecem simpáticos). Contratamos um serviço de apoio em “roubadas em áreas remotas”. E agora só falta partir.
Hoje à noite embarco para Kathmandu. Lá tomo um teco-teco para o aeroporto mais leste do Nepal. De lá alugo um jipe e sigo para o leste até onde o caminho existe. Se tudo der certo, encontro meus dois fellow treckers e a partir daí vamos a pé para a fronteira Nepal/Índia leste. Só então começará a caminhada. Caminharemos para o oeste, acompanhando a fronteira norte com a China, rumo à fronteira Nepal/Índia oeste. Ao todo serão 1.750 km a pé, no coração do Himalaia. A expectativa é fazer o trajeto em 150 dias. A ver.
MAR
Quando criança, sonhava em conhecer Zé Colmeia, o urso que atormentava a vida de muita gente num desenho animado que assistia diariamente. Meu pai me dizia que um dia me levaria a conhece-lo. Hoje ele está numa cama e tenho certeza que de lá não sairá para cumprir sua promessa. Assim, por conta própria, para cumprir um desejo de infância, decidimos continuar a missão “Parques nas Rochosas” para visitar o Yellowstone National Park, morada de Zé Colmeia.
A partir de Banff, entraríamos nos EUA por Montana, parando um pouco no Glacier National Park, para mais abaixo chegar em Yellowstone, ainda em Montana. De lá terminaríamos a missão no Zion National Park, bem mais ao sul.
Entretanto, de nada valeu tanto planejamento…
Enquanto estávamos em Banff, uma frente (bem) fria se apossou de todo o centro-norte americano. A previsão era temperaturas entre -7 e -13 oC em Glacier no dia seguinte. E o cenário era de piora a partir disso. O site de previsão do tempo dizia que naquela região o verão fez uma ponte para o inverno, desviando do outono.
Acontece que o Jaboti, como qualquer outro motorhome, tem reservatórios e tubulações cheias de água por todas as partes. E a água costuma virar gelo bem antes dessas temperaturas. Se a água congelasse dentro do Jaboti, canos e reservatórios seriam rompidos e o prejuízo nem quero calcular. Para seguir para Glacier, teríamos que drenar toda a água do motorhome, das mais cristalinas às menos nobres. Mas aí deixaria de ser um motorhome para virar um carro comum.
Opa! Essa viagem é de motorhome! Então, como o tempo não mudou, mudamos o roteiro. Adeus Zé Colmeia. De Banff guinamos 90 graus à direita e fomos para o mar do Pacífico. Lá era certo que as águas continuariam rolando dentro do Jaboti.
Que felicidade!! Confesso que estava começando a cansar de ver tantos veados, pinheiros e montanhas nevadas. Agora é o costão azul, ensolarado e gelado do noroeste americano.

De Banff, cruzamos a fronteira e seguimos para Seattle. E lá, sem querer, por sorte, de graça, descobrimos a U.S. Route 101, mais conhecida como Oregon Coast Highway. Mais uma para colocar no Panteão das Rodovias Panamericanas. Que coisa maravilhosa! Jaboti trafegou por ela na fractal linha que separa o Oceano Pacífico dos Estados Unidos.
E o mar… o mar… o mar… quanto de teu sal são lágrimas de Portugal! Não sou português, mas tenho um avô que é. Meus olhos transbordaram ao ver essa imensidão de costa azul e selvagem.
Para um brasileiro como eu, é estranho ver o mar de frente e enxergar o Japão do outro lado. Se os Portugueses tivessem descoberto Oregon, trariam escravos japoneses para cá? E 20 de novembro, seria o dia da consciência amarela no Brasil? Acho que essa viagem está demorando demais…
Pela costa descemos todo o estado de Oregon, entramos na Califórnia e terminamos a viagem na Praia de Santa Mônica, ao lado do LAX, aeroporto de Los Angeles onde deixamos o Jaboti e voamos para casa.
Ao todo, foram 7.564 km bem rodados por maus caminhos desse mundão. Valeu!!!
OS MEIOS JUSTIFICAM O FIM

Essa foi uma verdadeira road trip, onde os meios justificam o fim.
Talvez não tenha ficado muito claro. A essência dessa viajem não foi chegar ao lugar de destino. Mesmo porque não havia um destino claramente definido. Sabíamos apenas que tínhamos que estar em Los Angeles no dia do embarque para São Paulo. A essência foi simplesmente rodar, rodar, rodar… olhar pela janelinha e ver paisagens exuberantes. Parar o Jaboti e andar por trilhas sentindo o cheiro do mato e o barulho do vento. Sem pressa e sem destino. Encostando o Jaboti numa clareira ao entardecer. Saindo cedo no dia seguinte.
Quanto terminou a Alaka Highway estávamos de frente para as Montanhas Rochosas, extensa cadeia de montanhas que percorre Canadá e Estados Unidos no sentido noroeste-sudeste. Seguimos viagem por essas montanhas.
O plano era conhecer alguns dos parques nacionais encrustados nas Rochosas. Rumamos para Jasper, uma pequena cidade rodeada por montanhas nevadas no sudoeste da província canadense de Alberta. Lá é a sede para explorar o Jasper National Park. Estacionamos o Jaboti em um dos seus campgrounds e passamos dias caminhando e pedalando pelo quase infinito emaranhado de trilhas capilarizadas pelo parque.
O melhor passeio foi uma trilha a pé até o Maligne Lake, uma difícil subida de 44 km que nos custou três dias para completar. Na chegada, fazia muito frio e uma neblina densa quase impedia o lago de ser avistado. No dia seguinte, pudemos enxergar melhor e ver três glaciares chegando ao lago, que era de um azul indescritível. Diversos picos nevados cercam Maligne Lake. Pegamos uma trilha para um deles e fomos parar no cume da Bald Hill, 2.310 metros acima do nível do mar, com 360 graus de vistas de tirar o fôlego.
Dava para ficar um mês vagando por Jasper, mas a viagem tinha que continuar. Descemos até Banff National Park. O parque em si não é lá essas coisas, embora seja bem mais famoso e badalado que Jasper, seu primo pobre.
Mas o trecho da Highway 93 que serpenteia pela crista das Rochosas ligando os dois parques é, para além de qualquer dúvida, os 300 km de estrada mais deslumbrantes desse mundo. Trafegar por ali nessa manhã já teria valido todo o esforço para fazer essa viagem.
ALASKA HIGHWAY
Trafeguei por algumas das mais icônicas estradas das américas: Ruta Panamericana, U.S. Route 66, Rodovia Transamazônica, BR-319, Ruta 40, Carretera Austral. Mas esta lista ficaria muito desfalcada se não contivesse também a legendária Alaska Highway.
Até 1941, apenas se chegava ao Alasca pelo mar ou pelo ar. Uma ligação terrestre entre o Alasca e os chamados 48 estados contínuos americanos era um sonho antigo. Sonho esse ainda não realizado devido à enorme dificuldade técnica e financeira em rasgar e pavimentar um caminho de milhares de quilômetros num ambiente extremamente hostil.
Mas, na manhã de 7 de dezembro de 1941 a marinha imperial japonesa acordou os americanos com um bombardeio que matou mais de 2400 pessoas, destruindo 21 navios e 347 aviões na ilha de Oahu, Havaí. Na manhã seguinte, o congresso dos Estados Unidos declarou guerra ao Japão.
E daí? Bem, daí que o governo americano percebeu que o ataque japonês foi um sucesso tático. Percebeu que o Alasca e toda a costa leste americana estavam mais que vulneráveis. Percebeu também que a rota aérea mais curta entre Tóquio e Washington passa exatamente sobre o Alasca, aquele velho bloco de gelo desabitado… lugar onde, caso precisassem, não conseguiriam se posicionar militarmente com rapidez.
Em exatos três meses após a declaração de guerra, o governo americano planejou uma estrada ligando a região do Canadá até onde se chegava por terra ao centro do Alasca. Combinou com os russos, isto é, com os canadenses, que iria fazer isso. Arregimentou milhares de civis e militares, bem como uma quantia brutal de equipamentos, e deu início à construção em 8 de março de 1942. Get the job done, disse o presidente naquele dia aos seus generais. E completou, as soon as possible.
Sete regimentos do exército americano (11 mil militares), três deles apenas com soldados pretos comandados por oficiais brancos, trabalharam na empreitada sete dias por semana, 24 horas por dia. Oito meses e doze dias após o início da construção, numa típica manhã gelada na floresta boreal, o primeiro comboio com caminhões do exército americano carregando soldados e armamentos completou o percurso, inaugurando a Alaska Highway.
A Alaska Highway se estende da cidade canadense de Dawson Creek até Fairbanks, no coração do Alasca. São 2.253 km serpenteando entre montanhas, vales, florestas, pântanos, rios, riachos, rochas e glaciares. Em diversos e extensos trechos, o traçado da rodovia cruzava pântanos sobre solo permanentemente congelado (chamado permafrost). Lidar com isso foi um pesadelo para os militares engenheiros que planejavam, e mais ainda para os soldados que executavam a obra. Outro grande problema foi construir 113 pontes sobre rios e riachos ao longo do caminho. Muitas delas nasceram precárias e instáveis. A temperatura chegava a -50 oC em algumas ocasiões, quando nenhuma máquina funcionava e era extremamente perigoso trabalhar exposto. Centenas de soldados morreram em acidentes com máquinas, em naufrágios em lagos e rios ou simplesmente de hipotermia.
A cidade de Dawson Creek tinha 600 habitantes no início da construção. Manter um fluxo de mantimentos para 11 mil soldados que começaram a chegar de repente foi uma das tarefas mais difíceis. Aliás, esse é um problema clássico das guerras.
Construir uma rodovia em uma região remota e hostil como essa foi tarefa difícil para quem dela participou. Barracas dormitório sem aquecimento, fome, fadiga, periculosidade extrema dos métodos de construção ilustram alguns dos problemas enfrentados.
Também a solidão foi um problema. A maioria dos que participaram da construção era composta por jovens de vinte e poucos anos que, de repente, foram arrancados de pequenas cidades – onde viviam com a família, amigos, namorada – e colocados no meio da floresta boreal. Em Watson Lake, então um vilarejo de caçadores no extremo norte do Canadá, um soldado sentiu saudades de casa. Para manter viva a ideia de que logo voltaria, fincou um poste no chão e pregou uma placa com o nome de sua cidade natal no sul dos Estados Unidos e uma seta indicando a direção e distância até lá. Dias após, outro soldado fez o mesmo. E mais outro. E mais outro. Ao final da construção havia uma praça com centenas de placas em Watson Lake sinalizando diferentes cidades. Ao final da guerra, o hábito continuou e se tornou uma tradição. Cada um que passava por Watson Lake colocava uma placa de sua cidade natal. Hoje o local que reúne as placas se chama Sign Post Forest. Lá estão mais de 75 mil placas sinalizando cidades de todos os continentes. Numa delas se lê “Campinas – SP, Brasil. 16.798 km sudeste”. Fomos nós que colocamos. A distância calculei no Google Maps.
Inicialmente, a Alaska Highway era apenas uma estrada estreita, de terra (ou gelo) coberta por cascalho, sem acostamento, com pontes precárias, sujeita a alagamentos, onde passavam apenas veículos militares, preferencialmente 4×4. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os EUA “deram” a parte canadense da estrada para o Canadá. Os dois governos passaram então a pavimentar a rodovia, acertar acostamentos, reconstruir pontes, fazer sinalização, etc. O tráfego foi aberto à população civil em 1948.
Enquanto passávamos por lá, comemorava-se o 75o aniversário da estrada. Desnecessário dizer que a paisagem é deslumbrante! Difícil foi manter a atenção no volante e fazer todas as curvas.
DENALI, A MAIS ALTA
No início do século 18, um capitão dinamarquês de nome Vitus Bering navegou a serviço da Rússia por um tormentoso braço de mar na região ártica. Fazia muito frio e neblina. Ele não conseguia enxergar exatamente por onde ia. Achava que ali havia apenas algumas ilhotas e, à parte sua tripulação, mais ninguém. Tempos mais tarde, cartógrafos europeus decretaram que esta foi a primeira incursão humana àquelas latitudes e passaram a nomear tudo por ali em homenagem ao navegante. Assim nasceram na cartografia ocidental a Ilha, o Mar e o Estreito de Bering.
Bering e os cartógrafos da época não sabiam que muitos milênios atrás, homens e mulheres passaram por ali a pé vindos do oeste. E não fosse pela pressa, o frio e a neblina intensa, poderia ter explorado um pouco melhor a região. Se atracasse sua embarcação e explorasse a porção continental que estava “descobrindo”, poderia ter encontrado assentamentos dos povos Athabaskan, Haida, Tingit, Tsimshian, Inuit, Aleuta e alguns outros que há séculos viviam na região.
Hoje essa porção de terra a leste do Estreito de Bering é o maior dos estados norte-americanos. Foi comprada da Rússia por uma verdadeira pechincha há 150 anos. A opinião pública americana considerou essa compra – 1,5 milhão de km2 de terra gelada, muito pouco habitada e com comércio incipiente – um negócio extravagante e irresponsável. Décadas depois, a prospecção de ouro, de petróleo e o interesse estratégico em colocar tropas, aviões e radares no quintal da União Soviética mudou o cenário por completo. Atualmente vivem mais de um milhão de pessoas no Alasca e seu PIB anual é 400 vezes maior que o valor pago por sua compra. (Aliás, os russos reclamam que a compra não foi quitada até hoje.)
As diversas etnias indígenas que lá habitam não se consideram russas nem americanas. Apenas sonham em voltar a viver como sempre viveram e poder cultuar suas montanhas como seus ancestrais. A mais alta e formosa delas foi batizada Bolshaya Gora pelos russos. Após comprarem o Alasca, americanos passaram a chama-la Mount McKinley, em homenagem a um de seus presidentes assassinados. Apenas há dois anos Barak Obama sancionou a lei que conferiu à montanha o retorno ao nome pelo qual seus ancestrais a chamaram por milênios: Denali, que na língua athabasca significa a mais alta. De fato, seu cume fica 6.190 metros acima do nível do mar, o que lhe confere o posto de mais alta montanha da América do Norte. Os Athabaskan sabiam das coisas.
Ao redor dela existe o Denali National Park: mais de 2 milhões de hectares de floresta boreal, tundra e montanhas nevadas. O vento é forte e gelado o ano todo. A temperatura varia entre 20 e – 50 oC. A vegetação é pouco diversificada, basicamente musgos, liquens, poucos arbustos e coníferas. Afinal, não é qualquer planta que aguenta um ambiente tão inóspito. A fauna é composta também só por quem aguenta o tranco, como ursos, renas, lobos, raposas, linces, e algumas aves.
Rita e eu deixamos o Jaboti no campground perto da entrada principal e partimos para uma caminhada parque adentro, para melhor poder avistar o Denali. Nas mochilas uma camada extra de roupa, barraca, saco de dormir, lanterna, fogareiro, gás e algo para comer. (Ok, confesso que tínhamos também um gps e um telefone satelital.)
É difícil descrever como me sentia andando pelo parque, quase arrastado pelo vento forte e gelado, cercado por picos nevados por todos os lados, e a vastidão insondável da tundra com seus tons marrom e laranja…
Manadas de elks uivavam e se acasalavam sem pudor à nossa frente. A uma distância embaraçosa e desconfortável, um urso pardo nos observou por toda uma tarde. Voltamos quatro dias mais tarde, quando a comida acabou. Montamos no Jaboti e seguimos viagem.
MOTIVAÇÃO
Rita e eu estamos na estrada há algum tempo. Entre pequenas e médias, fizemos grandes viagens por maus caminhos desse mundão. Uma das memoráveis foi dirigir de Campinas a Villa O’Higins, no sul da Patagônia chilena. Não menos memorável foi também dirigir de Campinas a Lawrence, no centro dos Estados Unidos.
Para enriquecer essa nossa experiência longitudinal pan-americana, resolvemos dessa vez dirigir do Denali National Park (Cantwell, Alasca EUA) até o Zion National Park (Cedar City, Utah EUA). Não é pouco, mesmo porque entre uma e outra cidade está o Canadá inteiro, de norte a sul.
Todas essas viagens foram feitas com a ONÇA, minha velha e saudosa caminhonete amarela, e a Tatarana, a jovem e impetuosa viatura atual. Entretanto, dessa vez propus à Rita viajarmos num motorhome. Confesso que estou um pouco envergonhado disso. Sempre fui orgulhoso da simplicidade franciscana das nossas viagens de caminhonete. Mas tinha muita curiosidade sobre como é a vida carregando uma casa sobre rodas.
Então, um pouco embaraçado, aluguei um RV (recreational vehicle) de uma companhia americana, para ser pego em Anchorage (Alasca) e devolvido um mês depois em Los Angeles. Ele foi batizado Jaboti. Basicamente, é um caminhãozinho Ford E-350 com cozinha (geladeira, fogão e micro-ondas), banheiro (com chuveiro) e uma cama de casal. Um luxo. Mas no fundo, bem lá no fundo, gostei. Não a ponto de mudar o estilo de futuras viagens, mas sim por ter conhecido esse outro modo de viajar.
E foi assim que, no meio do outono, partimos do centro do Alasca rumo a Los Angeles…
NINGUÉM MORRE NA VÉSPERA
São 2h45min. Hora de levantar. Dormi relativamente bem as últimas quatro horas. Considerando que estou a 5.300 metros de altitude, acampado sobre uma geleira e que a temperatura aqui dentro da barraca está -10 oC, não tenho do que reclamar.
Nunca havia acampado sobre o gelo. É para poucos. Fora o pequeno retângulo onde está meu isolante térmico com o saco de dormir por cima, qualquer outra parte dos 3 m2 que compõem o chão da barraca dói a mão só de encostar. E para completar, as paredes internas desse meu iglú estão forradas de uma película de gelo, vapor do meu corpo que se condensou e congelou.
Levantei. Me paramentei todo: balaclava, óculos, três camadas de roupa, luvas, botas duplas, crampons, capacete, lanterna, cadeirinha. Tomei uma caneca de café solúvel, consegui comer duas colheradas de granola com iogurte liofilizados e estava pronto para partir para o cume.
Eram quatro da manhã quando saímos. Na minha corda estavam também César à minha frente, Fred atrás de mim e Marcel atrás dele. Sete metros de corda interligava cada um de nós quatro ao companheiro mais próximo.
Fazia um silêncio pesado – não ventava – apenas entrecortado pelo ruído de nossos passos cramponando o gelo macio do glaciar. Uma lua minguante acompanhada das estrelas mais brilhantes jogava um manto prata azulado sobre o chão que pisávamos. Não havia sequer uma nuvem no céu. O cenário era frio, leitoso, surreal, marciano talvez.
Progredíamos lentamente, em ritmo regular. Éramos quatro almas unidas por uma corda subindo o glaciar. Sentia-me só, uma insignificância consciente se arrastando montanha acima.
Sabia que a qualquer momento poderia ser engolido por uma greta. No dia anterior, dois escaladores mexicanos e dois peruanos morreram numa avalanche na montanha ao lado. Agora mesmo isso poderia acontecer aqui. Em uma região de grande instabilidade sísmica como essa, qualquer pequena acomodação do terreno teria repercussões desastrosas para nós quatro. Minha vida estava nas mão de meus três companheiros de corda. E a deles nas minhas. Mas, curiosamente, desdenhei da morte o tempo todo. Tinha certeza que atravessaria aquela noite. Ninguém morre na véspera.
Havia mais com o que me preocupar. Tinha que manter o ritmo das passadas, montanha acima, montanha acima, montanha acima, apesar do frio, do ar cada vez mais rarefeito, do cansaço, da respiração mais que ofegante.
Cinco horas da manhã e eu me sentia menor que o mosquito no no cocô do cavalo do bandido. Solitário num cenário inóspito e surreal, frente a montanhas e glaciares que mal enxergava, e cujos ciclos de existência, comparados ao meu, eram eternidades. Abandonado à própria sorte numa região remota e desabitada de um planeta pequeno orbitando uma estrela modesta em uma galáxia perdida entre centenas de bilhões de outras visíveis em um universo em expansão.
“E no entanto, trago em mim todos os sonhos do mundo.”
Me lembrei que planejei esse momento lá em Barão Geraldo, seis meses atrás. Dia após dia, desde então, treinei músculos e nervos para estar aqui; cada movimento do piolet, cada passada do crampon foram planejadas para eu chegar 5 mil metros acima da casa onde vivo, com temperatura 40 oC abaixo daquela no quarto onde durmo, com a metade da pressão de O2 do ar que respiro em Campinas.
“E no entanto, ela se move.”
A rotação desse planeta pequeno fez transbordar sobre a montanha enfim – lenta, dramática e majestosamente – a luz da estrela modesta que aqueles que pisavam aqui sete séculos antes de mim chamavam de Inti, o deus da luz e da vida. São seis horas da manhã. Com a chegada do sol, tudo mudou. Renovava-se o ciclo de luz, vida e energia naquela manhã de 23 de julho. Tonto de admiração e cansaço, comecei a identificar ao meu redor, quase ao alcance das mãos, a silhueta das montanhas com as quais sonhei cada noite dos últimos meses. Estava ali o Cerro Artensoraju à minha esquerda. Os quatro Huandoys apareceram à minha direita. Consegui divisar o Nevado Huascaran Norte à minha direita, um pouco atrás o Huascaran Sul, a maior montanha do Peru. Identifiquei a Pirâmide Garcilaso à minha esquerda; atrás dela o Cerro Santa Cruz; ao seu lado o Quitaraju, à minha direita mais à frente, o Chopicalqui; atrás dele o Nevado Contrahierbas; à minha esquerda o Nevado Alpamayo, a montanha mais linda da Terra! E à sua frente o Tauliraju. Para além do cume do Cerro Pisco, nosso destino, conseguia ainda ver os nevados Yanapacha e Chacraraju.
Enfim, com a luz do sol identifiquei uma a uma as monumentais montanhas que surgiam ao meu lado. Entendi o caminho que fazia. Meu corpo já não se cansava. Meu corpo já não doía. Escalava com os olhos e a mente, uma a uma, todas aquelas montanhas. Feito um tapete voador, me deslocava para onde meus olhos miravam.
Será que o sol nasceu sem a ajuda de Deus? Ou quem sabe as centenas de bilhões de galáxias existentes, cada uma delas com trilhões de sóis nascendo sobre seus inúmeros planetas, e se expandindo numa dança pagã há 13 bilhões de anos por um espaço que não consigo imaginar, tudo isso junto não seja Deus ele próprio? Muito frio para raciocinar sobre isso agora, pensei.
Na minha cabeça tem uma rádio. Uma rádio que toca música sem o meu controle, em horários os mais inusitados e, às vezes, inoportunos. É sério! Nessa hora, enquanto Inti nascia, começou a tocar os minutos finais do Pássaro de Fogo (Firebird), de Stravinsky.
Acho que ele não sabia nada do povo Inca que habitava por aqui sete séculos atrás. Mas certamente Inti iluminava Stravinsky quando compunha Firebird. Ver a luz do sol desvelando as montanhas e ouvir Firebird são duas vivências de um mesmo processo. Só pode ser. Meu rádio não erra.
Às sete horas, encordado, fisicamente bem, emocionalmente esgotado, cheguei ao cume do Cerro Pisco. Me abracei a Fred, Marcel e César por alguns minutos. Descansamos um pouco antes de iniciar a longa volta.
ALGUM CORDEIRO PRECISA CONTINUAR CAMINHANDO…
Devido à sua grande inacessibilidade, a Cordillera Huayhuash é uma das mais isoladas e pouco habitadas regiões do planeta.
Percorre-la em seu todo significa uma dura caminhada de cerca de dez dias por 180 km de trilhas sempre acima de 4 mil metros de altitude, cruzando passos que chegam a 5 mil metros.
E todo esse esforço vale a pena! A Cordillera Huayhuash é de extrema beleza. A conceituada publicação Lonely Planet chama a Cordillera Huayhuash de “best alpine trek in the world”, uma deliciosa provocação para os que consideram alpino apenas o que está nos Alpes.
De fato, a Cordillera Huayhuash fica incrustada nos Andes peruanos. Numa viagem de 8 horas de ônibus a partir de Lima, rumo nordeste, chega-se à cidade de Huaraz, capital do andinismo peruano. De lá, a cordilheira é acessível após três horas de caminhonete trafegando em um longo e sinuoso caminho de terra montanha acima.
A cordilheira é uma compacta cadeia de 20 montanhas principais, 6 delas ultrapassando os 6 mil metros de altura, unidas por glaciares azuis, salpicados de lagunas verdes. Há também esparsos, minúsculos e incaicos vilarejos incrustados nos vales, como os pueblos de Pocpa e Huallapa, onde a língua corrente é o quéchua.
Duas décadas atrás, transitavam pela trilhas da cordilheira apenas pastores e guerrilheiros maoístas do movimento Sendero Luminoso. Com o fim da guerrilha e certa melhora no acesso, começaram a chegar, em pequenos grupos, montanhistas de todos os cantos do mundo.
Éramos cinco: Fernando Cruz (nosso guia), Maria, Rita, eu e o Catalino (arrieiro) que tocava quatro burros carregando nossas barracas, tralhas de cozinha e comida para dez dias.
No primeiro dia, andamos, andamos, andamos, cerca de oito horas. Pouco antes do anoitecer, armamos acampamento, preparamos nosso jantar e descansamos até o amanhecer seguinte.
E essa rotina se estabeleceu por dez outros dias. O que mudava era a paisagem deslumbrante, e o clima também. Pegamos chuva e neve por três dias no meio da travessia.
Rita e eu percorremos a cordilheira em 2007. Nove anos mais tarde, voltamos para trazer Maria. Foi seu primeiro trekking de altitude. Algum Cordeiro precisa continuar caminhando quando eu parar.
RODANDO PELA CARRETERA AUSTRAL
A partir de Chaittén, rumamos sul atravessando pontes estaiadas, vilarejos, florestas temperadas intactas, até que no final do dia, sob intensa chuva, chegamos ao Parque Nacional Queulat.
Esse parque é uma das pérolas da Carretera. Vale a pena ver o vídeo.
Passamos vários dias, várias garrafas de vinho, vários filés de salmão na brasa, acampados, conhecendo e percorrendo as trilhas de Queulat.
O termo “ventisquero” é usado nessa região da Patagônia para denominar uma glaciar suspenso, que verte água de degelo na forma de cascata sobre um lago ou rio. É uma formação rara e bela. A maior atração do Parque Queulat é o Ventisquero Colgante. Apesar do mau tempo e da má iluminação, a foto consegue ilustrar essa formação.
Após extensiva exploração do Parque Nacional Queulat, levantamos acampamento e seguimos rumo sul. Paramos em diversos Parques e Reservas, sempre acampando e explorando trilhas, montanhas, paisagens.
O cenário vai mudando, aplainando, secando. Até que chegamos a outra pérola da Carretera…
… um imenso, azul, crespo, ensolarado e translumbrante lago. Do lado oeste, no Chile, se chama Lago General Carrera. Do lado leste, na Argentina, se chama Lago Buenos Aires. Mas esse é um pormenor geopolítico. O lago e o ambiente são um só, o segundo maior da América do Sul, menor apenas que o Titicaca.
Enquanto percorremos a Carretera Austral sentido sul, o Lago nos acompanhou sempre à nossa esquerda por mais de 100 quilômetros. E na volta, quando saímos pela Argentina, foram mais de 200 quilômetros, muitos deles percorridos em escarpas de tirar o fôlego.
O lado chileno é mais selvagem, começou a ser habitado apenas no século 20, e era acessado exclusivamente pela Argentina, através da mítica Ruta 40, até a Carretera Austral chegar por aqui.
Apesar da clima frio e úmido da patagônia chilena, o Lago tem um microclima seco e ensolarado cuja explicação não consigo encontrar. Custa crer que estamos a -47 graus de latitude.
Apenas quando colocamos o pé na água quase congelada do Lago, ou vemos os cumes nevados das montanhas que o rodeiam, é que lembramos que estamos tão ao sul do planeta. É um lago de origem glaciar, que deságua tanto no Pacífico, através do Rio Baker, como no Atlântico, através do Rio Fênix Chico.
Depois de uma semana acampados às margens do Lago, reunimos coragem para desarmar a barraca e seguir para o sul, rumo à Reserva Nacional Lago Cochrane, onde acampamos mais uma vez à beira de um lago.
E de lá, tomando mais um transbordador, seguimos para Villa O’Higgins, até agora o final da Carretera Austral. Até agora porque há um projeto do governo chileno de extender a Carretera ainda mais ao sul. Mas… no meio do caminho tem uma pedra… uma enorme pedra de gelo, o Campo de Hielo Sur. Simplesmente a terceira maior massa de gelo do planeta – atrás apenas da Antártida e da Groenlandia – que não parece que vai dar mole para as máquinas de terraplanagem.
De O’Higgins subimos de volta para o Lago General Carrera, atravessamos o continente horizontalmente até a costa argentina do Atlântico e empreendemos alonga marcha de regresso.
Seis mil quilômetros depois, chegamos – cansados, felizes, cheios de histórias e fotos para mostrar – de volta a Campinas.
A IDA
Rita, companheira de tantas aventuras, veio junto dividindo a direção e o encantamento com a viagem. Até Puerto Montt foram 4,5 mil quilômetros rodados em alucinantes 5 dias. Durante a noite a gente dormia.
A viagem começou mesmo em Puerto Montt. Aliás, uns 25 km antes, na cidade de Llanquihue. Ficamos acampados lá por alguns dias, na beira do lago de mesmo nome, apenas descansando e admirando o belíssimo Vulcão Osorno. Deu vontade de subir até sua cratera e descer esquiando. Mas como não sabemos esquiar, preferimos ficar na praia tomando cerveja Kunstmann, uma especiaria regional.
Dias depois, após quase criarmos um conflito com ambientalistas locais, tantas foram as garrafas vazias que empilhamos na lixeira do camping, pegamos a Tatarana e seguimos viagem. De balsa, fomos para a Isla Grande de Chiloé, onde acampamos no Parque Nacional Chiloé, na costa oeste da ilha, praia selvagem e um pouco gelada, frente ao pacífico. De agora em diante, por causa do frio, e também para evitar embaraços ambientais com descartes, optamos por apenas beber vinho – também regional – que dado o menor volume ingerido gera menos resíduos de vidro. E para acompanhar, invariavelmente salmão fresco pescado por ali mesmo.
Do Parque fomos para a cidade de Quellón, ao sul da ilha, onde termina a lendária Ruta Panamericana, que parte do Alaska e liga toda a face oeste do continente americano. Quellón vive do cultivo de salmão.
Dias depois, 5 horas ladeando o Vulcão Corcovado, a balsa semanal nos levou de volta ao continente, na cidade de Chaittén, onde finalmente colocamos os pés na Carretera.
Chaittén ressurgiu das cinzas, literalmente. A cidade foi coberta pelas cinzas expelidas pelo Vulcão Chaittén que, após cerca de 10 mil anos sem atividade, em maio de 2008 resolveu entrar em erupção 10 km longe dali. O lugar teve que ser evacuado às pressas e se tornou uma cidade fantasma, que aos poucos vem reencarnando e retomando a vida.
A CARRETERA AUSTRAL
A Ruta CH-7, mais conhecida como Carretera Austral, é uma estreita e serpenteante estrada, que atualmente une Puerto Montt a Villa O’Higgins, muito lá em baixo, na Patagônia chilena. São cerca de 1240 km, predominantemente de rípia. A estrada é bastante complicada. Passa por montanhas, fiordes, bosques, lagos. Além disso, tem inúmeras descontinuidades, que precisam ser transpostas em infrequentes balsas – às vezes uma por semana! – que os locais chamam de transbordadores. Sua construção se iniciou na segunda metade da década de 1970 e se estendeu até o final dos anos 1980.
Pode-se enxergar alguma semelhança entre a CH-7 e a BR-230, Rodovia Transamazônica. Ambas foram obras faraônicas, caríssimas, de grande engenharia, feitas por regimes militares em lugares inóspitos, e que, no papel, visavam proteger territórios e populações remotas, integrando-as aos seus respectivos países. Me maravilhei trafegando pela Transamazônica em 2008 e 2012. Agora, em grande estilo, vim batizar a Tatarana na Carretera Austral.
TATARANA
Quem acompanhou as primeiras histórias desse blog conhece a Onça, minha velha e querida camionete. Acontece que depois de mais de 300 mil quilômetros rodados por maus caminhos em toda a América, do Oceano Ártico ao Canal de Beagle, do Atlântico ao Pacífico, ela partiu para nunca mais voltar. Em verdade, ela se partiu. Se partiu em vários pedaços numa costela de rípia em que tive que trafegar um pouco apressadamente enquanto me livrava de um incômodo bandoleiro que me perseguia numa quebrada boliviana. E não deu mais para juntar as partes.
Fiquei órfão uma porção de tempo. Mas enfim consegui uma viatura que substituísse a Onça à altura. Ei-la: Tatarana.
Tatarana é uma jovem camionete, motorzuda, boa de lama, boa de areão. Passei um ano mexendo na suspensão, instalando alguns acessórios. Agora está pronta. Seremos felizes juntos por outras centenas de milhares de quilômetros, tenho certeza. E para iniciá-la nos maus caminhos desse mundão, vruuummm, resolvi percorrer a Carretera Austral.
O CUME É OPCIONAL, A VOLTA É OBRIGATÓRIA.
Para quem nunca foi, é quase impossível explicar a atração que escalar uma montanha exerce. A gente passa frio, cansaço, dor de cabeça, falta de ar, náuseas, dorme mal, emagrece, carrega peso, fica mais de uma semana sem tomar banho, come gororoba, o nariz encraquela, os lábios racham…
Mas o interessante é que o conjunto todo é bom. É gostoso. É prazeroso. É do caralho!
Talvez o problema seja eu. Já tive outros amores bandidos assim. Amei um jipe Willys CJ 6 cilindros que vazava óleo em vários pontos, fazia 4 km/litro de gasolina, o breque mal funcionava, não passava de 70 km/h, quando chovia enchia de água, desconfortável, barulhento. Ficamos juntos por 19 anos. Atravessamos três casamentos.
Seja lá por qual motivo, resolvi escalar o Cerro del Plata, o pico mais alto do Cordón del Plata, bem acessível a partir de Mendoza.
Éramos 7: Gabriel, Celso, Marcos, Rodolfo, Max (guia da expedição), Edu (guia assistente) e eu. Exceto pelo Max, conheci o grupo apenas em Mendoza, na véspera do início da expedição.
Saímos de Mendoza numa Van para dormir em um refúgio de montanha a 2.950 metros de altitude, no início da trilha que levava ao cume. A partir de então, em um pouco mais de uma semana fomos nos deslocando e montando acampamentos cada vez mais altos. Durante este tempo de aclimatação, o grupo foi se conhecendo, amadurecendo, estabelecendo laços de amizade e solidariedade fundamentais para o sucesso no ambiente hostil da montanha. Até que no nono dia, estávamos em La Hoyada, 4.800 metros de altitude, último acampamento, esperando as primeiras horas da madrugada para partir para o cume. O grupo estava forte e ansioso. A noite que antecede o ataque ao cume é sempre complicada. A altitude elevada, a ansiedade, a expectativa conspiram por uma noite em claro.
Às quatro da manhã deixamos as barracas para trás para ganhar mais e mais altitude. O início foi duro. Andávamos calados. Somente o vento quebrava o silêncio. O céu estava estrelado, mas era lua nova, tudo muito escuro. As luzes das lanternas mal iluminavam a trilha na neve. Mas o cenário mudou dramaticamente quando o sol nasceu. Picos nevados surgiram em toda a volta, inclusive a face sul e tenebrosa do Aconcágua. Conseguia ver lá longe, inundado de nuvens, o vale por onde passamos subindo nos últimos dias. Os picos das montanhas em volta furando essas nuvens. Eu acima das nuvens.
Subimos, subimos, subimos, cansamos, continuamos subindo, subindo, subindo… até que por volta das 13 horas, primeiro um, depois outro, e outro, e mais outro, e enfim todos estávamos lá, com os pés plantados no cume do Cerro Plata, a 5.943 metros acima do nível do mar, vislumbrando os incríveis picos nevados do Cordón del Plata à nossa volta.
Sentei ao lado de uma cruz espetada no cume e entrei num estado de contemplação atemporal. Não sentia mais a cabeça doendo, a boca ressecada, o coração disparado, a fadiga. Parece que assistia um filme confuso, os primeiros acampamentos da expedição, as trilhas na altitude, o sol nascendo e se pondo a cada dia, as risadas, a amizade construída no gelo e no perrengue, o vento, a ventania, o vendaval. Não sei quanto tempo isso durou. Um minuto, uma hora, um dia. Até que alguém me puxou pelo braço gritando “bora descê, porra!”
Foi o que fiz. O cume é opcional. A volta é obrigatória.
DOS ANDES À AMAZÔNIA NUMA PEDALADA
Para quem vem de São Paulo, a chegada a La Paz é de tirar o fôlego. Literalmente. A cabine vem pressurizada o tempo todo a mais ou menos 2.200 metros. Quando começa o pouso a pressão dentro da avião cai, ao invés de subir como de costume. El Alto, o aeroporto internacional de La Paz, fica a 4.100 metros de altitude. É o mais alto aeroporto de grande porte do mundo. A pista é enorme, o avião parece que nunca vai parar.
O centro da cidade fica uns 400 metros abaixo, caindo de El Alto num vale forrado em ambos os lados de pequenas casas, a maioria de tijolo aparente.
Não dá para um brasileiro normal como eu chegar de casa e no dia seguinte sair pedalando. Nem em La Paz, e muito menos na Carretera de la Muerte. Alguns dias há que se passar aclimatando. E como sempre, uma delícia interagir com a população local.
E quando senti que dava, lá fui eu pedalar a Carretera de la Muerte. Como falei anteriormente, hoje ela não é de la muerte anymore. Com a inauguração de uma rodovia asfaltada ligando La Paz ao vale dos Yungas em 2006, o tráfego pesado vai todo por ela. A Carretera é atualmente usada basicamente por sitiantes em deslocamentos locais e uma legião de cicloturistas vindos de todos os cantos do mundo.
Mas ainda assim é perigoso pedalar por ela. Já 29 ciclistas morreram na Carretera desde 2006. O perigo maior é a sua beleza. Uma das coisas mais lindas que há nessa América do Sul deslumbrante é sair pedalando dos Andes e em poucas horas chegar na Amazônia, vivenciando de perto, ao vivo e em (muitas) cores, toda a transição de um ecosistema ao outro. Naturalmente, a bike vai para onde você olha. Quem pedala sabe disso. O problema é que o olhar não faz curvas…
E a Carretera é uma sequência de centenas de curvas. Num caminho estreito e sinuoso que se estende por quase 80 quilômetros há que se manter 100% focado no chão. Qualquer distração pode ser a última.
Já quase no final do dia, empoeirado, fisicamente esgotado, mas com a alma de um passarinho, uma pausa para descanso, antes de desaguar em plena floresta amazônica. Cada vez mais, soy loco por ti, América!
A ESTRADA MAIS PERIGOSA DO MUNDO
O nome é eloquente: La Carretera de la Muerte. A origem é pesada: foi construída na década de 1930 por prisioneiros da Guerra do Chaco, o mais violento conflito armado da América do Sul no século XX.
Até poucos anos atrás este era o único caminho que ligava duas cidades em tudo contrastantes: a fria, alta e seca La Paz, nos Andes bolivianos, com a quente, baixa e chuvosa Coroico, centro produtor de coca na entrada da Amazônia boliviana.
São cerca de 80 km de um caminho deslumbrante, estreito, pedregoso, ziguezagueando encostas escarpadas. Devido a elevada incidência de acidentes fatais (300 ao ano, em média), foi apontada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento como a estrada mais perigosa do mundo.A estrada tem normas próprias. Quem sobe para La Paz tem a preferência. Quem desce trafega pela esquerda (mão invertida), olhando para o abismo, para melhor se certificar que as rodas esquerdas estejam sempre sobre a pista.
Felizmente em 2006 concluiu-se uma rodovia asfaltada alternativa, que atualmente concentra a maior parte do tráfego local. Assim, a Carretera de la Muerte hoje transformou-se em um atrativo turístico, utilizada quase exclusivamente por aventureiros de bicicleta. Ainda assim, foram registradas 29 mortes de ciclistas pedalando por ela desde então.
PRA BAIXO TODO SANTO AJUDA!
Paso de la Cumbre, altiplano boliviano, 4.650 metros acima do nível do mar, primeiras luzes da manhã. Após três intermináveis meses sem correr uma milha sequer, me encontro aqui parado, com muito frio, com pouco ar, pensando, pensando.

Pensando que uma nova etapa está para começar. Se tudo der certo (e você está lendo este texto porque, de fato, tudo deu certo) ainda hoje estarei com essa magrela na Amazônia boliviana.
BUSCANDO SIMÓN PELA PUNA ARGENTINA
Certa vez, li um relato na internet afirmando que existe uma tal Vega La Bitujuela, onde vive Simón, um ermitão. Só, com suas ovelhas. Fiquei maravilhado. Desde sempre me encantam estórias de pessoas estranhas que vivem sós em lugares esquisitos. Talvez uma premonição. Os livros Walden e Into the Wild não saem da minha cabeceira. Decidi ir atrás desse sujeito. Pelo menos, chegar perto e ver se ele existe mesmo. Ermitões detestam companhia.
Acontece que Simón vive na Puna, um ótimo lugar para um ermitão morar. Então, lá fui eu.
Puna é uma palavra de origem indígena, talvez quéchua, nominando uma região que se estende pelo sul do Peru, sudoeste da Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina. Grosseiramente, pode ser dividida em três sub-regiões: o altiplano boliviano, a Puna do Atacama e a Puna Argentina.
Segundo Ricardo Alonso (geólogo argentino), “El relieve de la Puna Argentina corresponde al de una fosa elevada a 4000 metros sobre el nivel del mar, internamente quebrada en bloques elevados y hundidos, que conforman serranías y depresiones y albergan los salares y todo el conjunto enmarcado por dos imponentes cordilleras: una volcánica y otra tectónica, a occidente y oriente respectivamente. Volcanes y salares, clima árido y vegetación escasa son los parámetros que definen el singular ambiente de la Puna”.
Os Andes Orientais bloqueiam o vento úmido que vem da Amazônia. Os Andes Ocidentais bloqueiam o vento úmido que sopra do Pacífico. Em conseqüência, a Puna é um deserto. Um deserto frio, cujas temperaturas noturnas, nos salares, facilmente atingem -30oC.
Por ser tão inóspita, a Puna é pouco frequentada. A flora é escassa. A fauna é escassa. E quanto às pessoas, é considerada a região mais desabitada do planeta. Em um dos meus dias em busca de Simón, rodei mais de 100 km ser ver sequer um ser humano, exceto os que estavam comigo no carro.
Depois de mais de 150 mil quilômetros muito bem rodados, vendi a ONÇA e comprei uma nova caminhonete, ainda sem nome, a qual estou preparando em Campinas. Por causa disso, fui de avião para Salta e lá aluguei uma caminhonete 4×4 para fazer o percurso. Éramos três: Maria, Rita e eu. Batizamos “Branquela” a caminhonete.
Salta, “A Linda” como é chamada pelos locais, é mesmo uma cidade linda. Andei pelas suas ruas e vielas por vários dias quando ia para os EUA em 2009. Sabia que um dia voltaria. Dessa vez fiquei apenas o suficiente para os trâmites do aluguel da Branquela, uma caminhonete 2011 com pneus normais e apenas um sobressalente, sem guincho, sem rádio. Foi o que melhor consegui.
De Salta subi a Cuesta del Obispo, rumo à cidade de Cachi, e de lá para Cafayate, fazendo um aquecimento para o que viria pela frente. A partir de Cafayate entrei na Puna Argentina propriamente dita. Segui para El Peñon, Vulcão Galán, Campo de Piedra Pomez, Antofagasta de la Sierra, Salar de Arizaro, Antofalla, Antofallita, Tolar Grande, Salar del Diablo, San António de Los Cobre, Salina Grande, para, depois de 2 mil km, voltar a Salta.
Agora, no conforto de casa, sentado escrevendo este texto, confesso que foi uma tremenda irresponsabilidade colocar minha filha e minha mulher na Branquela e sair pela Puna sozinhos e mal equipados. Não faça isso. Ande ao menos em dois carros e leve agasalho, água, comida e um confiável sistema de comunicação para enfrentar alguns dias parados no deserto. Se o seu carro quebrar (e acredite, eles quebram) isso vai fazer a diferença entre a vida e a morte.
Mas, quanta história resultou de irresponsabilidades! Andei em terrenos muito agressivos. Dunas e areões traiçoeiros, cascalho, pedras soltas, buracos, fortes aclives e declives, ribanceiras, travessia de riachos (sim, há riachos no deserto, degelo), enfrentando rajadas de vento fortíssimo com muita poeira, calor intenso de dia e frio insuportável à noite, tudo isso entre 3 e 5 mil metros de altitude. E o pior de tudo… sob o efeito potencializador do ar rarefeito, a sensação de abandono absoluto, fragilidade infinita e desmedida insignificância em altos planaltos onde você gira 360 graus com os olhos arregalados e não enxerga n e n h u m o u t r o s e r v i v o.
E por falar nisso, não vi nem sinal de Simón, o motivo que originou a viagem. Parece que ele pressentiu minha chegada à Vega La Bitujuela e se abrigou em alguma paragem ainda mais remota com seus carneirinhos. Sei lá.
Mas o saldo foi fantástico. Conheci um dos lugares mais incríveis do planeta. Declaro-me absolutamente incompetente para descrevê-lo em palavras. Contento-me em mostrar as fotos. Faça você seu julgamento.
O NEPAL NÃO SAI DA GENTE
Lukla é a Babel do Khumbu. Um povoado nervoso, com tribos dos quatro cantos do mundo, cada qual falando seu próprio idioma. Carregadores chegam e partem a toda hora, trazendo ou levando tralha montanha acima. Tropas de jumentos e yaks lotam as vias principais abastecendo hospedarias e o comércio local. Cheguei encharcado, em meio a uma chuva fina e contínua, tão contínua que continuou por dias a fio.
Tem um aeroporto em Lukla que por si só vale uma visita ao povoado. A pista de pousos e decolagens é única, estreita, curta e inclinada. Inclinada! Os teco-tecos pousam subindo ladeira. E para piorar o estresse, a pista fica no topo de um morro, ladeado por montanhas mais altas. Talvez por isso eu tenha chegado andando, mas todos vêm mesmo é de avião. Inclusive Emiliano, Mariana e Beatriz, genro e filhas, com quem Rita e eu nos juntamos e seguimos viagem.
De Lukla em diante tudo mudou (veja o trajeto). O cenário é outro. Começa a alta montanha. As árvores vão diminuindo de tamanho e se espaçando cada vez mais para por fim sumirem. A vegetação toda vai rareando, rareando até acabar. A umidade vai diminuindo, a luminosidade aumenta, o frio chega e se intensifica, os picos nevados aparecem por todos os lados, e o sentimento é de deslumbramento e imensa solidão.
O cenário social muda também radicalmente. Os povoados são cada vez mais esparsos. Turistas andam em bandos coloridos e barulhentos. A economia gira toda em torno do turismo de aventura. Pelo caminho se encontram hospedarias, pequenos restaurantes, comércio de tralhas de acampamento, turistas de todos os cantos do mundo andando em grupos e procissões de carregadores levando 30 ou mais quilos de roupas de frio, saco de dormir e outros apetrechos de seus clientes.
De Lukla caminhei para Phakding, Nanche Bazar, Khumjung, Khumde, Tengboche, Dingboche, Lobuche e Periche, para depois voltar para Nanche e Lukla, completando cerca de 150 km de caminhada.
Passei ainda alguns dias em Lukla até acumular suficiente coragem para voar daquele medonho aeroporto até Kathmandu, e de lá voltar ao Brasil. E assim terminou minha primeira aproximação do Nepal.
Melhor dizendo, ainda não terminou. O Khumbu continua povoando meus sonhos, minhas lembranças, minha imaginação. A gente sai do Nepal, mas o Nepal não sai da gente.
.
SUPLEMENTO FOTOGRÁFICO:











O CRISTÃO TEM QUE ANDAR A PÉ
Cheguei a Jiri (1.835 metros acima do nível do mar) ao entardecer e logo comecei a andar por caminhos de terra estreitos e sinuosos em meio a uma floresta temperada densa. Subi a 2.400 metros para depois descer rumo a um vale de um rio caudaloso às margens do qual fica o povoado de Shivalaya, a casa de Shiva em nepali, onde passei a noite numa pequena hospedaria, com mesas coloridas no terraço à beira do rio.
A partir daí estabeleci uma rotina. Pelos próximos 7 dias acordava com a primeira luz da manhã, saía para uma caminhada de 8 a 10 horas até o próximo pouso, onde chegava exausto ao anoitecer. Nos primeiros dias me sentia muito cansado, mas o corpo foi se acostumando com o novo ritmo ao longo do tempo. Assim, fui passando pelos povoados de Bhandar, Kinja, Taktobuk, Jumbesi, Nunthala, Kharikola, Bupsa e finalmente cheguei à cidade de Lukla (2.850 metros de altitude), 90 km adiante de Jiri, onde parei por alguns dias.
O caminho foi um sobe e desce sem fim. Não há nada plano no Khumbu. Atingia passos de 2.500, 3.000, 3.500 metros de altura para depois descer para vales entre 1.500 e 2.000 metros. E depois subia, subia, subia, para descer novamente…
Ao caminhar durante esses dias tive uma amostra da vida simples e aparentemente feliz dos nepaleses que vivem no Khumbu. Pequenas vilas, precedidas por rodas de oração e monumentos budistas, surgiam a cada dobrada do caminho, com casas brancas e janelas coloridas. Crianças brincando e correndo para lá e para cá me cumprimentavam sorridentes: namastê. Homens cuidavam dos animais e tocavam comboios de mulas e yaks carregados de itens do comércio local. Mulheres cuidavam da lavoura e das crianças pequenas.
O povo era de uma delicadeza e cordialidade impressionante. Tive oportunidade de me hospedar em casas de gente comum, comendo a comida do dia-a-dia, assistindo todo o cerimonial de preparo das refeições, participando da rotina familiar.
E como se não bastasse tudo isso, o cenário era espetacular. Andei por montanhas e vales de uma floresta temperada muito úmida, praticamente intocada. Cruzei bosques densos com árvores enormes. Atravessei incontáveis pontes sobre rios e riachos em fundos de vales que pareciam saídos de contos de fadas. Em muitos lugares, apenas o entorno das casas teve sua vegetação original derrubada para aproveitamento do solo com plantações de hortaliças, legumes, algumas frutas e criação de pequenos animais. Quase não há comércio de alimentos nessa região. As famílias preparam a terra ainda com arado puxado por animais e comem o que produzem.
A impressão que tive é que as pessoas vivem aqui como há um século. À parte a luz elétrica (fraca e intermitente), o telefone celular (que muitas vezes não tem sinal) e a televisão, nada mudou por aqui nas últimas décadas. As roupas, os costumes, as festas remetem a tradições seculares. As músicas que ouvia saindo das janelas das casas eram tradicionais nepalesas. Mesmo alguns programas de televisão mostravam músicas e danças locais.
Não há estradas no Khumbu. Todo o transporte, de mercadorias e de pessoas, é feito a pé. Existem jumentos e yaks para carga, mas são conduzidos por pessoas a pé. E como é bom andar a pé! O cristão tem que andar a pé! Quando cheguei a Lukla não cabia em mim de tanta felicidade. Certamente, foi uma das minhas mais gratificantes experiências de viagem. Muito bom andar a pé todos esses dias por essa região praticamente intocada pela globalização. E apesar de estar na Ásia, de frente para o Himalaya, lembrava o tempo todo de uma música que ouvia quando criança no sertão de Pernambuco, terra de meu pai. (clique para ouvir)
Automóvel lá nem se sabe
Se é home ou se é muié
Quem é rico anda em burrico
Quem é pobre, anda a pé
Mas o pobre vê na estrada
O orvaio beijando a flô
Vê de perto o galo campina
Que quando canta, muda de cor
Vai moiando os pés no riacho
Que água fresca, nosso Senhor
Vai oiando coisa a grané
Coisas que, pra mode ver
O cristão tem que andar a pé
SUPLEMENTO FOTOGRÁFICO:










KATHMANDU
Após 21 horas entre voos e conexões, cheguei a Kathmandu. O caminho para o hotel já deu uma amostra da cidade: grande, densa, colorida e maltratada. O trânsito é caótico, um emaranhado de ônibus, carros e motos buzinando sem cessar. A acessibilidade é nenhuma. Diferentemente de algumas cidades grandes da América Latina e da África onde estive, não se nota a presença ostensiva da policia nas ruas. Apenas alguns poucos policiais de trânsito em grandes cruzamentos.
Kathmandu fica num vale, 1300 metros de altitude, rodeada por montanhas não muito altas ao longe. Espalhados pela cidade e arredores existe um grande número de templos budistas, hindus, palácios, monumentos, praças que conferem à cidade uma atmosfera exótica e sedutora.
No dia seguinte, fui ao que pareceu ser a rodoviária logo ao amanhecer e peguei um ônibus para a cidade de Jiri, 180 km a nordeste de Kathmandu. A viagem se estendeu por 8 horas, a maior parte delas zigzagueando em uma estrada muito estreita, subindo e descendo montanhas. O risco de rolar ribanceira abaixo era real.
O motorista corria feito louco. Dentro do ônibus lotado tocava música indiana em alto volume, que se misturava com o rangido dos freios e as buzinas dos veículos em direção oposta. Ao encontrar com estes em alguns pontos da estrada onde mal cabia um veículo, a negociação para a passagem era improvisada pelos respectivos motoristas aos berros. O ônibus parou três vezes. Uma parada para o almoço, às 9h40 da manhã! Outras duas para um xixi coletivo. Na primeira parada hídrica, custei para entender o que estava acontecendo. Os homens correram para o mato de um lado da estrada, e as mulheres fizeram o mesmo para o outro lado. Na segunda parada já estava mais familiarizado e acompanhei o comboio masculino até o banheiro coletivo. Finalmente cheguei a Jiri e comecei a fazer o que iria se repetir pelos próximos 25 dias: andar, andar, andar. Estava ainda aturdido, metabolizando esse turbilhão de emoções que foi a viagem de ônibus.
SUPLEMENTO FOTOGRÉFICO:












MOTIVAÇÃO
O Monte Everest fez parte dos meus sonhos na adolescência. Lembro bem quando fui apresentado a ele numa aula de geografia. Logo me fascinou a história dos grandes aventureiros ocidentais que se dedicaram a conquistar o topo do mundo; os 101 anos que se passaram entre a identificação do Everest e sua “conquista”; as muitas expedições que falharam a caminho do cume, os inúmeros alpinistas que foram soterrados sob a neve do Himalaya até que Tenzing Norgay, um sherpa, acompanhado de Edmundo Hillary, alpinista neozelandês, finalmente pisassem no local mais alto do planeta em 1953.
Mas essa estória ficou perdida num passado distante. Não sabia nada sobre a magia do Vale do Khumbu e seu significado para o povo sherpa. Apenas recentemente, casualmente assistindo a um documentário sobre a região, fiquei encantado com a possibilidade de andar a pé sob o ar rarefeito de infinitas trilhas que talvez me levassem a conhecer algo sobre a cultura e a alma dos homens e mulheres que vivem no local.
A TERRA DO POVO SHERPA
O povo Sherpa acredita que o Vale do Khumbu foi criado por Padmasambhava, fundador do Budismo Tibetano, para ser usado como refúgio em tempos de fome, doenças, perseguições. Por nisso acreditar, para lá migraram há 500 anos, fugindo de conflitos religiosos no Tibet.
Padmasambhava exagerou nas tintas. O Khumbu é MUITO lindo. Ao seu norte fica, nada mais, nada menos que Chomolangma, que em tibetano significa “deusa mãe do universo”, e que os ingleses rebatizaram muitos séculos depois, com muita prepotência e nenhuma criatividade, de Mont Everest. Não bastasse isso, Chomolangma vem ladeado por inúmeros picos, todos mais de duas vezes mais altos que a mais alta montanha brasileira. Na direção sul se estende o vale propriamente dito, ladeado a leste e a oeste por paredões nevados, que termina numa floresta temperada úmida. No meio disso tudo, vilarejos perdidos no tempo.
A LONGA VOLTA
Voltamos ao Brasil. Após 100 km de asfalto reto e vazio, estávamos em Boa Vista, onde ficamos alguns dias. O próximo destino foi Rorainópolis, a segunda maior cidade de Roraima, com 25 mil habitantes. De lá, ainda pela BR174, continuamos rumo sul.
Descruzamos a linha do Equador, que havíamos cruzado em Macapá, para depois trafegar 122 km dentro da reserva indígena Waimiri-Atroari, onde 1252 índios vivem atualmente. Depois de algumas centenas de quilômetros, finalmente chegamos a Manaus.
Essa coisa de cruzar e descruzar o Equador na mesma viagem traz um inconveniente. Na Amazônia, as estações de chuva e estiagem são opostas dos lados opostos do Equador. Quando é época de chuva acima, é estiagem (isto é, pouca chuva) abaixo, e vice-versa. Desse modo, não há como sair de carro do sul e cruzar o Equador sem dar de cara com a temporada de chuvas. Ou antes, ou depois, elas são inevitáveis. Como o foco da viagem era as Guianas, optamos por trafegá-las numa época razoavelmente seca. Mas o preço foi tomar MUITA chuva na Amazônia brasileira.
Mas foi muita chuva mesmo! A coisa começou a pegar após Manaus, quando entramos na malsinada BR319, a mais selvagem estrada brasileira. Ela foi inaugurada em 1973, durante o regime militar, como parte da política de colonização da amazônia. Rasgou inutilmente uma região totalmente desabitada. Era, e continua até hoje, a única ligação por terra entre Amapá e Manaus e o restante do país. A construção precária, aliada a absoluta ausência de manutenção, transformaram a estrada em algo intransitável uma década após sua construção. Atualmente, exceto por suas cabeceiras em Humaitá e Manaus, a BR319 é um rasgo estreito e desabitado, quase engolida pela floresta. São dois os maiores obstáculos para trafegar a BR319: as pontes quebradas ou quase, e os extensos lamaçais no período das chuvas.
Esta foi minha terceira incursão na BR319. A primeira foi em 1986, quando fiz de Ônibus (Viação Cascavel) o trecho Manaus-Porto Velho. Depois, em 2009, fiz o percurso inverso na companhia de outros sete veículos 4×4. Dessa vez, estávamos sós. Aliás, nem a Rita quis nos acompanhar nessa travessia lamacenta. Inventou uma desculpa e tomou um avião de Manaus para Campinas. Restamos apenas Sérgio e eu, heroicamente na ONÇA.
Deixamos Manaus numa terça-feira bem cedo, fim de janeiro, para pegar a balsa que cruza o Solimões e dá na entrada da BR319. Os primeiros 110 km foram de asfalto. A última oportunidade de abastecimento aconteceu no município de Careiro. A partir daí foram centenas de quilômetros num caminho estreito, lamacento, quase totalmente desabitado, no meio da floresta. Dormimos a primeira noite ao pé de uma das torres da Embratel que estão pelo caminho. Chovia fora e dentro da barraca. Normal. Já acostumamos. Nesta viagem ou choveu todo dia, ou choveu o dia todo. Para continuar rodando, usamos todo o nosso repertório: pneus mud, tração 4×4, bloqueio nos dois diferenciais, guincho, âncora de solo … e reza brava.
Pior ainda eram as pontes. Algumas delas eu olhava, olhava, olhava até bater uma coragem irresponsável que me fazia engatar e ir em frente. Vejam essa da foto. Andei por ela para acreditar que se resumia mesmo a dois troncos da largura dos pneus. Depois, cruzei guiado pelo motorista de um caminhão que esperava ali parado há alguns dias esperando por alguém que viesse dar manutenção ao caminho. No meio da travessia, tirei cabeça para fora da janela e olhei o pneu dianteiro esquerdo. Estava lá, inteiro ocupando o caibro, como o pé da ginasta ocupa a trave. Fiquei com tanto medo que não mais olhei para fora. Fixei o olhar no motorista que me sinalizava e segui em frente. A travessia durou uma eternidade.
E foi assim, entre atoleiros e pontes suicidas que íamos vencendo a distância até Humaitá. O caminho deserto. Num dos dias, topamos com Moisés, um garimpeiro que andava há 4 dias pela BR319 na direção de seu garimpo. Demos carona. Ele estava cansado e faminto. Havia passado a noite anterior sem dormir por causa da chuva forte e do frio. Conversamos muito e comemos um lanche juntos. Grande figura. O deixamos 50 km a frente, onde pegou uma picada e sumiu na direção de Manicoré. O caminho deserto. Noutro dia encontramos uma S10 atolada. Uma família inteira estava lá há dias sem conseguir fazer a caminhonete andar. Tiramos. As crianças sorriam feito passarinho.
No último dia de nossa travessia estávamos a 160 km de Humaitá, eram 16 horas, chovia torrencialmente. De repente a ONÇA começou a puxar cada vez mais para a esquerda. Parei e vi que a roda dianteira esquerda estava torta “para dentro”. Suspendemos com o hi-lift e tiramos a roda. Não deu outra: um dos dois parafusos da bandeja se soltara, igual havia acontecido comigo e a Rita em San António de Los Cobres dois anos atrás. Seguimos muito lentamente em diante. A noite caia, a chuva caia, lama por todo o lado, e nós a uns 10 km por hora até chegar a Humaitá no meio da madrugada. Dirigir à noite, com chuva, lamaçal, sem enxergar e com a suspensão avariada é para poucos. Como diz um site de jipeiros de Manaus: “Expedição no norte é para os fortes!”
Chegamos a Humaitá como quem chega a New York, ávidos pelos confortos e facilidades da cidade grande. Consertamos a suspensão e alinhamos a direção, lavamos a ONÇA por dentro, lavamos (e secamos!) as roupas.
No dia seguinte, muito cedo, atravessamos uma balsa e caímos na BR230, muito mais conhecida como Rodovia Transamazônica. Neste primeiro dia, percorremos o trecho Humaitá-Apiaí. No início, até o povoado chamado “Km 180”, que aliás fica a 180 km de Humaitá, a estrada estava muito esburacada e lamacenta.Chovia bastante e trafegávamos muito lentamente. Havia esparsos povoados no caminho e desmatamento às margens da rodovia. A partir do Km 180, a rodovia ficou melhor, menos esburacada. Na medida em que nos aproximávamos de Apiaí, mais e mais notava-se a transformação das margens da Transamazônica em pasto. À beira da estrada começam a aparecer fazendas com muito gado e peões. O cenário é mais de pantanal do que de amazônia. Uma tristeza.
No segundo dia, percorremos o trecho Apiaí-Itaituba. Continuam as pastagens com gado às margens da Transamazônica, agora vêm-se também caminhões carregando imensas toras de árvores abatidas e áreas de queimada. Em comparação com o que vi em 2009, o desmatamento e a agropecuária avançaram nitidamente na região. Almoçamos em Jacareacanga, uma cidade onde vivem 19 mil índios, numa população de 30 mil habitantes.
A partir de então, rumo a Itaituba, o cenário muda radicalmente. Desaparecem as pastagens e a desolação das queimadas e ressurge a floresta magnífica. Há três reservas na região: Floresta Nacional do Tapajós I, Floresta Nacional do Tapajós II e Floresta Nacional “Não Me Lembro Agora”. Isso muda tudo.
Mas, o mais impressionante é o que vem pela frente: o Parque Nacional da Amazônia: uma área imensa de floresta protegida. Rodamos cerca de 100 km dentro do Parque. A mata está intocada, beirando e comprimindo a Transamazônica. Impressionante. Sem dúvida, cruzar essa mata foi a maior emoção de toda a viagem. E uma das minhas maiores emoções na vida. Inenarrável. Anoiteceu enquanto cruzávamos o Parque. Era noite estrelada de lua nova. Uma rara noite estrelada em toda a viagem. Paramos a ONÇA sob a luz vacilante das estrelas se infiltrando pelas copas das árvores centenárias e caminhamos ouvindo os sons da floresta. Respeito e emoção. Cada um ser humano tem que viver essa experiência ao menos uma vez. Não vou afirmar que acampamos essa noite na floresta porque isso não é permitido dentro do Parque.
No dia seguinte, em Itaituba, cruzamos o Rio Tapajós de balsa, rodamos ainda em um trecho da Transamazônica e logo chegamos ao entroncamento com a BR163, rodovia Santarém-Cuiabá. Tomamos o rumo sul no entroncamento e seguimos. A mata definitivamente acabou. Apenas uns castanheiros solitários nos pastos imensos testemunham que um dia tudo isso foi floresta. A estrada melhora paulatinamente. Longos trechos de terra batida, alguns atoleiros, trechos asfaltados. Parece que logo tudo isso será asfaltado, dizem por aqui. Seguimos, seguimos viagem, seguimos. Três mil quilômetros adiante, estávamos de volta à Campinas.
- na floresta
- na floresta
- no igarapé
- amazoniño
- soja no que era antes floresta
- meninas de Itaituba
- o Tapajós em Itaituba
- igarapé
- clandestino
- de volta, a floresta
- às margens da Transamazônica
- às margens da Transamazônica
- bye bye Brasil
- encontro
- às margens da Transamazônica
- cruzando um riachinho na amazônia
- aldeia
- BR319
- a insustentável leveza do ser, BR319
- BR319
- passando, BR319
- inspecionando, BR319
- de balsa
- riacho
- equador, latitude zero
- no Equador
FINALMENTE, A FLORESTA
Cruzamos o rio Corentyne e entramos na Guiana. Como no Suriname, continuamos dirigindo “do lado errado”. Mas depois de tantos dias assim, já não sabíamos qual era mesmo o lado certo. Na balsa conhecemos Adam, sujeito simpático e solitário. Saiu com sua moto da Inglaterra há 6 anos e nunca mais voltou. Anda pelo mundo, sozinho. Seguimos juntos viagem por alguns dias, atrapalhando sua solidão. Quis saber seu sentimento de nacionalidade, não soube responder. “Há muito deixei de ser inglês. Nada entrou no lugar. Não tenho nacionalidade.”, respondeu.
O caminho de Corriverton (cidade litorânea na foz do rio Corentyne) a Georgetown (capital do país) parece ser uma única e imensa rua beirando o mar por 150 km. Nesse caminho ao longo da costa pantanosa, vimos passar mais de uma centena de vilas conurbadas. Nem parecia que estávamos no caribe. A população, a arquitetura, a comida, tudo enfim tem forte influência indiana; de onde descende 51% da população do país. Os indianos foram trazidos para cá aos milhares pelos ingleses, que aliás combatiam o tráfico de escravos africanos, para trabalhar na lavoura no século XIX.
Já em Georgetown predominam os afro-descendentes. Ficamos pouco tempo nesta cidade, pois queríamos mesmo era descer ao sul cruzando a floresta da Amazônia guiana. Descemos de Georgetown até Linden, cerca de 80 km pavimentados em uma estrada estreita e de mão dupla, sem acostamento, com tráfego intenso. A partir daí nos embrenhamos na floresta por um longo, estreito, tortuoso e belíssimo caminho de terra no meio da mata quase intocada.
Trafegamos o dia todo até as margens do rio Essequibo, onde dormimos em redes, acompanhados por mosquitos de variadas espécies. No dia seguinte cruzamos o rio de balsa logo às seis da manhã e seguimos rumo sul na floresta. Chovia muito. Cruzamos o Iwokrama Research Center, a única área de proteção ambiental demarcada no território guiano. Rodamos dezenas de quilômetros sem ver sequer vestígios humanos.
Até que, mais ou menos abruptamente, a floresta dá lugar à savana, já próximos da fronteira com o Brasil, por onde entramos pela cidade de Bonfim.
- wellcome
- Rita enchendo o tanque
- Guiana
- quantalameira
- entrando na floresta
- Iwokrama
- o caminho na floresta
- escolar
- rapina na savana
- queimada na savana
- Adam
- seguindo com Adam
O PIOR NEGÓCIO DA HISTÓRIA
Dormimos em Saint Lauren du Maroni, na fronteira leste da Guiana Francesa. Logo nas primeiras horas do dia seguinte cruzamos de balsa o Rio Maroni, para chegar em Albina, já em território do Suriname, antiga Guiana Holandesa.
A paisagem social mudou radicalmente. Voltamos aos trópicos. Mais pobre, mais sofrido, mais ingrato, mas, sem sombra de dúvida, mais interessante e autêntico que a infeliz colônia travestida de metrópole que deixamos para trás. Seguimos pelo litoral até a capital do Suriname.
No caminho para Paramaribo se nota toda a influência não apenas dos holandeses, mas também de descendentes dos negros trazidos como escravos, dos imigrantes indianos, indoneses, javaneses, chineses e tantos outros que para cá vieram ao longo dos últimos séculos.
Uma amiga minha diz que a soma das virtudes é uma constante. Não sei se é verdade, mas a frase serve como ilustração. Holandeses compraram a Ilha de Manhattan dos índios Delaware, que lá viviam no início do século 17, pela bagatela de 60 guilders, que equivaleria a cerca de mil dólares hoje em dia, segundo calculam economistas.
Fundaram então a cidade de Nieuw-Amsterdam. Um ótimo negócio me parece. Por muito pouco compraram uma ilha estratégicamente colocada na costa leste norte-americana e construíram uma cidade fortaleza para bem gerenciar a colonização, o comércio e a defesa local. Mas eles mesmos, algumas décadas mais tarde, realizaram o que talvez tenha sido o pior negócio da história. Para selar a paz com ingleses, com quem vinham guerreando ao longo de vários anos pela posse e exploração de terras no novo mundo, trocaram Nieuw-Amsterdam por Paramaribo, um obscuro posto de comércio gerenciado por ingleses na América do Sul. Os holandeses assumiram Paramaribo e fizeram dela a capital de sua nova colônia. Os ingleses trocaram o nome de Nieuw-Amsterdam por New York City, e o resto da estória todos conhecem.
Após alguns dias em Paramaribo, deixamos o Suriname rumo à Guiana (antiga Guiana Inglesa).
- Paramaribo
- a caminho de Paramaribo
- Paramaribo
- Mangue, costa leste do Suriname
- Paramaribo
- Paramaribo
- aldeia, litoral do Suriname
- suriamês
- O sol nasce no Rio Maroni
ILES DU SALUT – o inferno no paraíso
Vinte minutos depois de embarcar num ferry, chegamos a Saint Georges, na outra margem do Rio Oiapoque. Sim, a Guiana Francesa existe! Estive lá. Brasileiros precisam de visto para entrar nesse “departamento extra-marinho francês”. Seguimos margeando o litoral até Cayenne, capital do país/departamento/colônia. Cayenne é uma cidade bem comportada, que dorme cedo, sem favelas, sem crianças de rua, sem bêbados nos botecos, sem nem botecos. Alguns dias depois, tocamos em frente.
Este é um lugar difícil de caracterizar. Parece não haver uma identidade local. Logo ao noroeste ficam as Antilhas e o mar do Caribe. Ao sudeste ficam os litorais norte e nordeste do Brasil. E no meio disso os moradores se dizem franceses e parte da Comunidade Européia (aliás, a moeda local é o Euro). Mas, até onde minha geografia permite raciocinar, a comunidade européia fica na Europa e a Guiana Francesa fica na América do Sul. Entre elas há um oceano de diferenças.
Franceses, ingleses, holandeses e portugueses viviam às escaramuças por aqui. Disputavam quem mais explorava a terra das vária etnias indígenas que habitavam o local desde muitos séculos antes deles chegarem. Em 1815 os franceses foram confirmados como os “donos” desse lugar por um tal Congresso de Viena. A essa altura, eles começavam a demonstrar sua auto-proclamada vocação humanitária, tratando com muita igualdade, liberdade e fraternidade os povos do Haiti, da Argélia, da Guiné, do Senegal, da Costa do Marfim, da Indochina, e de tantas outras paragens. Resolveram então transformar esse pedaço da América do Sul em colônia penal para hospedar indesejados de todo o império. Alguns presídios foram então construídos aqui e durante cem anos, entre os séculos 19 e 20, receberam mais de 90 mil prisioneiros, dos quais um terço jamais voltou para casa. O mais famoso dos presídios foi implantado nas malsinadas Iles du Salut: um conjunto de três pequenas e paradisíacas ilhas perto da costa: Ile Royale, Ile Saint-Joseph e Ile du Diable, que foram palco de todo o tipo de brutalidade contra a população carcerária. Esse sistema prisional foi desativado nos anos 50 do século passado.
Tenho uma atração mórbida por presídios. Não sei exatamente porque. Já visitei alguns famosos, como Alcatraz (São Francisco), Kilmainham (Dublin), Ushuaia (Ushuaia), Carandiru (São Paulo). As misérias da alma se amplificam nesses lugares. Suas inúmeras estórias de tentativas de fuga, geralmente mal sucedidas, testemunham o inconformismo do espírito humano. Tomamos um catamarã e seguimos para as ilhas. Diferentemente das praias continentais da Guiana Francesa, as ilhas são cercadas de águas azuis e claras. Têm uma vegetação exuberante. Na Ile Royale ficava a administração dos presídios. Os prisioneiros mesmos “moravam” na Ile Saint-Joseph e na Ile du Diable. O presídio foi desativado em 1953. Ficaram suas ruínas, suas estórias, seus fantasmas.
Sob denso silêncio, andamos um dia inteiro pelas ruínas do presídio. Após, pegamos um barco de volta para o continente e seguimos para a fronteira oeste, com o Suriname.
- a metrópole e a colônia, Cayenne
- Cayenne
- Chegada à Ile Royale
- Ile du Diable
- Ile du Diable
- Ile Saint-Joseph
- Ile Royale
- árvore fugitiva, Ile Saint-Joseph
- árvore fugitiva, Ile Saint-Joseph
- presídio, Ile Saint-Joseph
- l’amour toujour l’amour, Cayenne
- equação do segundo grau, Cayenne
- praia dos oficiais, Ile Royale
- cemitério, Ile Royale
- a todos os que fugiram, vivos ou mortos, Ile du Diable
TRAFEGAR É PRECISO
Me lembro do espanto, quando ainda criança, ao descobrir que havia países na América do Sul onde a língua oficial era o francês, o holandês, o inglês. Eram as três Guianas. Como assim? E o Tratado de Tordesilhas? Portugal e Espanha não haviam dividido o mundo ao meio? Como é que os franceses, holandeses e ingleses chegaram aqui? Até então imaginava a América do Sul como uma porção de pequenos países de língua espanhola cercando o Brasil.
Por décadas essa foi uma questão difícil para mim. Me dei conta que não conhecia nenhum guiano, nem ao menos um parente distante de um guiano. Nem um cantor guiano, um atleta guiano, um político guiano.
Recentemente me enchi de coragem e resolvi tirar essa estória a limpo. As Guianas existem mesmo? Trafegar é preciso!
Possivelmente, Sérgio e Rita, minha esposa, tiveram a mesma angústia quando crianças, pois se animaram de imediato quando os convidei para a viagem. Em casa, entre uma branquinha e outra, traçamos os planos. Vamos de carro, isto é, com a ONÇA, de Campinas a Belém. De lá, por uma balsa contornando a Ilha do Marajó, chegaremos a Macapá e subiremos até a cidade de Oiapoque. Então, se estiverem lá, entraremos na Guiana Francesa, depois no Suriname (antiga Guiana Holandesa) e finalmente na Guiana (antiga Guiana Inglesa). De volta ao Brasil, desceremos até Boa Vista, depois Manaus, depois rumaremos para Humaitá pela BR319, de lá para Itaituba pela Transamazônica, para então voltar a Campinas. Parece fácil, não? No final da conversa, um pouco embriagada, Rita lembrou que isso tudo seria em janeiro, alta estação de chuvas na Amazônia brasileira. Foi quando Sérgio, um pouco sóbrio, trouxe a solução: levaremos guarda-chuva! E assim terminamos a cachaça e o planejamento da viagem.
Logo após o almoço de natal de 2011, jogamos a tralha toda na ONÇA e deixamos Campinas para trás. E foi passando Ribeirão Preto, Uberaba, Cristalina, Planaltina, São João da Aliança, Alto Paraíso, Colinas do Tocantins, Imperatriz… Após 3.109 km, rodados em três intensos e cansativos dias, enfim chegamos a Belém do Pará.
Passamos dois dias lidando com os trâmites do embarque da ONÇA para Macapá. Vencida essa etapa, nos dedicamos a comer. Só coisinhas leves, tacacá, pato no tucupi, maniçoba, açaí, bacaba, tucunaré, pirarucu, castanha-do-pará, bacuri, pupunha, tambaqui, tucumã, muruci, piquiá e taperebá, arroz de jambú, açaí e o translumbrante sorvete de cupuaçu da Cairú. Essa orgia gustativa compensou cada quilômetro rodado nos dias anteriores. O que há de mais marcante e singular em Belém é a culinária.
A virada do ano foi na barraca da Dona Ana, no Ver-o-Peso, comendo tacacá de joelhos, entre bêbados, prostitutas e garis. Estávamos alegres. O ano acabou e a viagem continua.
No primeiro dia de 2012 voamos de Belém para Macapá, a única capital estadual brasileira às margens do Rio Amazonas. A cidade é cortada pela linha do Equador, que aliás divide ao meio o campo de futebol do maior estádio do estado do Amapá. No início dos jogos os times estão em hemisférios diferentes.
Fazia 35 graus em Macapá no final da tarde de primeiro de janeiro. A orla do Amazonas estava lotada de barracas vendendo coco, batata frita, sorvete, cerveja. Muita gente passeando para lá e para cá.
Pegamos a ONÇA no dia seguinte e fomos ao Jeep Club do Amapá conhecer os jipeiros e saber das condições da estrada para Oiapoque. Como sempre por esse Brasil grande, foram extremamente atenciosos conosco. Nos deram o telefone de outros jipeiros em Oiapoque, Cayenne e Paramaribo. Depois de uma boa conversa nos escoltaram em caravana até o quilômetro 9 da BR156, rodovia que leva ao Oiapoque.
Foram quase 600 km de estrada vazia e reta. Os 180 km finais era terra, passando por várias aldeias indígenas nas proximidades do Parque Cabo Orange. Enfim chegamos a Oiapoque, à beira do Rio Oiapoque, que separa o Brasil da Guiana Francesa.
Há dois anos, Lula e Sarcozy inauguraram uma ponte sobre o Rio Oiapoque, ligando os dois países. Mas essa ponte até hoje está fechada ao trafego por motivos incompreensíveis para nós, que acabávamos de chegar e queríamos seguir viagem prontamente. Dizem os locais que falta colocar as duas aduanas nas cabeceiras das pontes e regulamentar o trânsito entre os dois países. Mas como em dois anos não conseguiram fazer isso, desconfio que tenha gente graúda descontente com essa ponte. A propósito, o transporte de gente e mercadorias entre Brasil e Guiana Francesa é controlado por apenas uma empresa, que cobrou US$ 200 para transportar a ONÇA por 20 minutos para o outro lado.
VOLTANDO PARA NOSSO MUNDO
Logo ao amanhecer, após termos explorado o topo do Monte Roraima intensamente nos últimos dois dias, levantamos acampamento e iniciamos nossa longa volta. Nossa última visão no topo, ao iniciarmos a descida, foram “os guardiães”, pedras estreitas e compridas, posicionadas “em pé”, que lembram soldados guardando uma passagem.
O percurso ascendente, da entrada do parque até o topo, que fora percorrido em três dias, na descida foi feito em apenas dois. Inicialmente, partimos do topo do Monte Roraima, almoçamos no acampamento base e dormimos às margens do Rio Tek. É interessante como o nível de exigências e conforto a que estamos acostumados no dia-a-dia vai caindo ao longo da expedição. Nesta noite bebemos cerveja quente, e estava absolutamente deliciosa!
No dia seguinte percorremos o ultimo trecho, do acampamento no Rio Tek à entrada do Parque Nacional Canaima, em Paraitepuy, onde chegamos por volta da hora do almoço. Tivemos nossas mochilas inspecionadas, no check-out do parque. Ao final da expedição a sensação era de ter estado em outro mundo, Belo, surpreendente, exótico.
ANDANDO EM OUTRO MUNDO
Passamos esses dois dias percorrendo intrincados caminhos que levavam a um sem número de paisagens exóticas no topo do Monte Roraima. É difícil descrever o que há por lá. A começar pelo clima, que oscila entre o sol intenso e a chuva forte com vento e neblina espessa, em questão de minutos. São 30 km2 de paisagens inusitadas. A localização também é estranha. Andamos a 2.700 metros de altitude, ora na Venezuela, ora na Guiana, ora no Brasil. Passamos por monumentos de pedra, esculpidos pela água e o vento ao longo de dois milhões de anos, formando imagens as mais bizarras. A vegetação, heróica e bela, brota por entre as pedras. Uma exuberância de vales, lagos, cachoeiras, plantas insetívoras, flores exóticas, grutas, anfiteatros de pedra, abismos se estendem para todo lado. Em um determinado ponto, de repente, o caminho se torna coberto de cristais de quartzo. Visto de longe, parece ter nevado recentemente, pois o chão se torna branco. Mais à frente, um poço de onde se pode mergulhar de uma altura de 7 metros em água corrente e fria, saindo por uma galeria subterrânea sustentada por pilares de pedra.
- no topo do Monte Roraima
- pisando em cristais, no topo do Monte Roraima
- no topo do Monte Roraima
- no topo do Monte Roraima
- no topo do Monte Roraima
- no topo do Monte Roraima
- no topo do Monte Roraima
- no topo do Monte Roraima
- no topo do Monte Roraima
A CHEGADA AO TOPO DO MONTE RORAIMA
Acordamos às 5 horas, com tempo aberto e temperatura baixa, 12 graus. Tomamos um café ansioso e logo começamos caminhar, rumo ao topo.
Andamos embrenhados numa mata equatorial úmida. Encharcada. Verde. Exagerada. A água escorria por toda parte, e, como se não bastasse, ainda brotava do chão. Foi o trecho mais cansativo da expedição. E, sem dúvida, o mais bonito até o momento. Subimos 800 metros em 4,5 km de trilha, com muitos declives, alguns longos, permeando o traçado ascendente. À nossa direita, sempre o paredão vertical, que dependendo da incidência de luz, refletia um amarelo avermelhado. À nossa esquerda, um vão enorme e lá embaixo a ondulação da Gran Sabana, cada vez mais distante. A trilha era fechada e acidentada, com pedras lisas, soltas, e muitos trechos de lama. A neblina densa, a garoa intermitente, os sons de animais invisíveis, as bromélias gigantes espalhadas pelo caminho, tudo conspirava a favor do mistério e da magia que envolvem o Monte Roraima. Passamos pelas “lágrimas”, um passo de cerca de 30 metros com a chuva eterna formada por um dos olhos d’água da montanha. Ao subir essa encosta escarpada lembrei que ela se destacou do resto da Sabana há dois milhões de anos. Um pouco da força descomunal que empurrou a terra toda para cima ainda está por aqui.
Às 11h15 chegamos ao topo, exaustos e encantados com o lugar. O solo é rochoso. Um jardim de flores estranhas e vigorosas parecem brotar das pedras. Pequenas poças d’água refletem o céu, ora azul, ora cinzento.
Seguimos direto para o “Hotel do Índio”, reentrâncias escavadas pelo vento e a chuva na rocha, que formam abrigos bem colocados num paredão de frente para um abismo de onde se vislumbra lá embaixo a Sabana e toda a trilha que percorremos nos últimos três dias.
À frente e à direita, na mesma altura do Hotel, se vê o Tepui Matauí. Armamos nossas barracas dentro dessas reentrâncias. Este foi o hotel de cuja sacada a melhor vista já tive em toda a vida. Passamos o resto do dia ao redor do Hotel, apenas olhando, olhando, olhando a imensidão à nossa volta.
SEGUNDO DIA DE TRILHA
Dormimos muito bem. Estávamos exaustos, o que garantiu uma noite de hotel cinco estrelas, apesar do chão duro e da falta de espaço na barraca. Às cinco horas da manhã a claridade do dia acordou a todos. Tomamos um café reforçado, desmontamos as tralhas e às 7 horas estávamos andando. Deixamos o primeiro acampamento a 1.140 metros de altitude, baixamos para 1.040 logo na primeira hora. Após duas horas de caminhada cruzamos o Rio Kukenán, maior e mais caudaloso que o Tek. Atravessá-lo com as mochilas nas costas não foi tarefa fácil. Ficamos um bom tempo tomando banho no rio, nos preparando para o que viria pela frente. Do Rio Kukenán em diante foi só subida. Cada vez mais nos aproximávamos do Tepui Matauí e, à sua direita, majestoso, o Tepui Roraima.
Os Pemóns, índios da Gran Sabana, dizem que “coisas estranhas” acontecem no Tepui Matauí. A montanha é assombrada por espíritos maus. Dizem que o tepui é cercado por cães selvagens, que não deixam ninguém se aproximar. Segundo contam, havia na região três tribos em constante conflito: os Taurepáns, os Arekunas e os Kamarakotos, que formam a etnia Pemón. O Tepui Roraima era a montanha da celebração das vitórias nas lutas entre elas. O Tepui Matauí era a montanha onde iam os guerreiros derrotados. Humilhados, subiam o tepui e se deixavam morrer.
Quanto mais nos aproximávamos no Monte Roraima, maior ele ficava. O caminho para chegar ao acampamento base, onde pernoitaríamos nesta noite, é uma trilha íngreme e pedregosa, com vegetação rasteira, típica da Sabana. Há muita erosão de chuva margeando a trilha. O clima muda drasticamente de uma hora para outra. Sol, chuva forte, sol, vento forte, neblina, um na sequência do outro na mesma manhã.
Chegamos ao acampamento base, a 1.904 metros de altitude, às 13h30. O Monte Roraima está logo ali, na nossa cara. O paredão que o destaca do resto da Terra é impressionante. Vertical. Rocha avermelhada com duas fendas distantes uma da outra, por onde escorrem perenemente fios d’água. São os olhos da montanha. Custa crer que amanhã estaremos no topo. Por onde? A trilha sumiu.
Tomamos banho gelado numa corredeira formada por um dos olhos d’água, próxima ao acampamento. Aqui os mosquitos já dão uma boa trégua. Só os trilheiros vêm nos picar.
A temperatura caiu de 30 graus enquanto caminhávamos para 20 no início da noite. A Estrela Dalva apareceu no céu limpo, só para fazer uma graça. Daí uma hora chovia e nós dormimos na expectativa de um dia difícil amanhã.
A CAMINHO DO MONTE RORAIMA
Saímos do hotel em Boa Vista numa Van às 5 horas da manhã. Rumamos para o norte pela BR174. O tempo estava horroroso. Nuvens muito pesadas e chuva forte durante toda a primeira hora da viagem. Na Van éramos 11 pessoas: o motorista, um dos guias e nove turistas, entre eles Mariana, Rita e eu.
O astral dos nove “expedicionários” foi melhorando depois que amanheceu. A última cidade brasileira por qual passamos antes de deixar o país foi Pacaraima. Alguns quilômetros à frente cruzamos a fronteira Brasil/Venezuela. Trâmites facílimos, se comparados aos que enfrentamos na América Central. Do lado brasileiro, apenas carimbar a saída no passaporte. Do lado venezuelano, apresentar o certificado de vacinação contra febre amarela e mais um carimbo no passaporte.
Às 10 horas estávamos em Santa Elena de Uairén, tomando café da manhã numa padaria da cidade. Santa Elena, capital da região de Gran Sabana, fica 15 km distante de Pacaraima. A principal atividade econômica da cidade é a extração de diamantes. Após o café, encontramos o segundo guia de nosso grupo, um rapaz forte, alto, mestiçado indígena, de nome Marcelo. Durante toda a expedição foi muito gentil, culto, preciso e oportuno na liderança do grupo.
Deixamos a Van e ocupamos duas Toyotas Land Cruiser com uns quinze anos de uso. Às 10h30 partimos por uma estrada vicinal que serpenteava pela Gran Sabana num chão de terra, sempre subindo. Cruzamos no caminho o Rio Kukenán, que se tornará nosso velho conhecido nos próximos dias da expedição. Quase duas horas mais tarde, chegamos na comunidade indígena de Paraitepuy, numa das entradas do Parque Nacional Canaima, um enorme parque, com cerca de 3 milhões de hectares, que protege os Tepuis da região, dentre os quais o Monte Roraima. Índios pobres, vivendo em choupanas e casas de barro ao redor, nos receberam. Vivem das expedições que passam por aqui. Na entrada havia turistas de vários continentes, alguns chegando como nós, outros voltando do Roraima.
Fizemos check-in na entrada do parque, pusemos a mochila nas costas e caminhamos 12 quilômetros até o primeiro acampamento. A altitude não variou muito. Partimos de 1100 metros e chegamos a 1.140, mas a trilha, aberta, era cheia de sobe-e-desce, o que torna tudo mais cansativo. Rumávamos para o leste. O sol descia às nossas costas. Ao longe víamos os Tepuis Matauí (ou Kukenán) e Roraima lado a lado, longínquos, se aproximando a cada passo, iluminados pelo sol poente.
Chegamos exaustos às margens do Rio Tek, um rio estreito e raso onde acampamos a primeira noite. No local, em volta de alguns casebres de barro cobertos por palha de buriti, montamos nossas barracas, sempre olhando para o Maatauí e o Roraima. Ainda deu tempo de tomar banho no rio junto com um exército de mosquitos famintos e jantar comida de acampamento. Às 20 horas, bajo un cielo estrellado, dormimos profundamente, como crianças cansadas.
GRAND CANYON, O ÚLTIMO PARQUE
Chegamos ao Grand Canyon National Park, no Arizona, onde acampamos nossas últimas três noites nestas férias. Este é o parque mais conhecido, e talvez mais visitado, dos Estados Unidos.
Ficamos na margem norte (north rim) do canyon, mais alta, mais isolada, mais remota. Mais bonita? Difícil dizer. Vamos ter que voltar para verificar melhor e responder.
- Grand Canyon Nt Park
- Grand Canyon Nt Park
- Grand Canyon Nt Park
- Grand Canyon Nt Park
BRYCE CANYON NATIONAL PARK
- Maria lá
- Bryce Canyon Nt Park
- Bryce Canyon Nt Park
CAPITOL REEF NATIONAL PARK
Nosso próximo destino foi o Capitol Reef National Park, onde acampamos três noites, ao som dos coyotes. Nos arredores do parque passamos de carro por uma das mais lindas trilhas de toda a viagem: a Burr Trail, cerca de 120 quilômetros em pleno deserto, entre morros e paredes de pedra.
No dia seguinte pegamos o outro lado desta estrada, a Highway 12, construida sobre uma crista de serra estreita e alta entre dois vales profundos. Esta estrada tem a fama de ser o caminho mais bonito dos Estados Unidos.
- Capitol Reef Nt Park
- Capitol Reef Nt Park
- Burr Trail
- Ao longo da Highway 12
- Capitol Reef Nt Park
- Trajeto
ARCHES NATIONAL PARK
Apenas 100 km adiante, chegamos no Arches National Park. São Arcos, colunas e monumentos de pedra que resultaram de erosão pelas raras chuvas e ventos fortes, por milhares de anos. Diferentes camadas de rocha se desgastando continuamente em diferentes velocidades formam o cenário.
O que hoje é um deserto – com árvores retorcidas e precipícios em labirinto – já foi mar, já foi floresta. São milhões de anos de história geológica expostos ao ar livre.
CANYONLANDS NATIONAL PARK
Achávamos que asfaltaram os Estados Unidos inteiro. Não havíamos ainda encontrado caminhos de terra. Mas enfim, no Canyonlands National Park, lavamos a égua, ou melhor, a ONÇA.
Saímos de Black Canyon rumo oeste para entrar no paraíso dos jipeiros de Utah.
- Canyonlands National Park
- Canyonlands National Park
- Canyonlands National Park
- Canyonlands National Park
- Canyonlands Natinal Parak
- Trajeto
BLACK CANYON OF THE GUNNISON NATIONAL PARK
Deixamos Rocky Mountain para trás e fomos para o Black Canyon of the Gunnison National Park. Este parque foi criado para preservar e proteger o cânion que o Rio Gunnison esculpiu na rocha nos útimos não sabemos quantos milhões de anos. Aquela estória, água mole em pedra dura…
Na foto vê-se o Rio Gunnison lá em baixo e um paredão de pedra com cerca de 700 metros de altura acima dele. Ficamos abismados!
Já estamos no deserto americano, terra de Malboro, temperatura varindo entre 10 e 40 Celsius, mas às margens do rio tudo é verde, o que torna a paisage ainda mais bonita.
- Black Canyon Nt Park
- Black Canyon Nt Park
- Black Canyon Nt Park
- Maria no Black Canyon Nt Park
- Black Canyon Nt Park
- Black Canyon Nt Park
- Percurso
ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK
Maria, Rita e eu morávamos em Lawrence, Kansas, em 2010. Em maio saímos para percorrer alguns parques de uma região lindíssima e pouco conhecida no Brasil: o Colarado Plateau.
O Colorado Plateau é um planalto que abrange parte dos estados do Colorado, Utah, Arizona e Novo México. Segundo contam, há n milhões de anos era um mar. Mas n-x milhões de anos atrás o fundo desse mar se elevou cerca de 3 mil metros formando um imenso deserto. Nele, a ação do vento e da água por outros milhões de anos desenhou uma das paisagens mais espetaculares do planeta.
O primeiro parque visitado foi o Rocky Mountain National Park. O deserto ainda não começou. Era maio. Apesar de quase estarmos no verão, a temperatura variou entre -5 e 10 Celsius, nevando boa parte do tempo.
De dia a rotina era caminhar por vales e florestas de pinheiros. À noite, fogueira, vinho e um bom churrasquinho de hamburguer (sorry!).
- Rocky Mountain National Park
- Rocky Mountain National Park
- Rocky Mountain National Park
- RockY Mountain National Park
- Rocky Mountain National Park
- trajeto
MÉXICO
Na cidade de La Mesilla cruzamos nossa décima-segunda e última fronteira, antes de entrar nos Estados Unidos: Guatemala/México. Foi um momento importante para nós. Finalizamos a etapa centro-americana da viagem e iniciamos a terceira e última: América do Norte.
Qualquer fronteira, seja ela de que natureza for, é sempre um espaço de tensões, diferenças, conflitos, transições. Nessa viagem cruzamos 12 fronteiras nacionais, gastando entre duas e três horas em cada uma com trâmites muitas vezes confusos e desnecessários. Os postos de fronteiras por onde passamos foram sempre um caos. Havia imigrantes, policiais, fiscais, cães farejadores, vendedores ambulantes, caminhoneiros, ônibus, lotações, batedores de careteira, despachantes, cambistas, tudo misturado, falando e andando para todos os lados. Os prédios eram sujos e mal cuidados. Não havia regras e procedimentos explicitados para orientar os viajantes. Tudo teve que ser descoberto na hora, um pouco na base da tentativa e erro. A burocracia e a ineficiência foram enormes.
Homens e mulheres povoaram a América. Muito tempo depois as fronteiras chegaram Em alguns sentidos, a vida piorou depois disso. Nauás, tamoios, guaranis, incas, aztecas, maias, navajos, apaches não conheciam fronteiras. Sonhamos com uma América sem fronteiras! Sem barreiras impedindo as pessoas de encontrarem os lugares de sua felicidade.
Seguimos rumo norte pela região montanhosa de Chiapas, e passamos alguns dias na cidade de San Cristóbal de Las Casas. A uma altitude de 2.500 metros, as noites eram frias, para os padrões brasileiros, mas as pessoas nas praças, falando, cantando, dançando, aqueciam todo o ambiente.
Já percorremos mais de 12 mil quilômetros, passando por 12 países. A diversidade cultural e, sobretudo, geográfica é enorme. Entretanto, há uma coisa comum, que permeia toda essa viagem: a língua espanhola. É admirável e surpreendente. Argentinos, chilenos, peruanos, equatorianos, panamenhos, costa-riquenhos, nicaraguenses, salvadorenhos, guatemaltecas, mexicanos (para ficar apenas nas nacionalidades que conhecemos) falam a mesma língua. De fora parece óbvio, mas de dentro é um espanto. A Hispano-América se fragmentou em 19 nações. Abrange 12 milhões de quilômetros quadrados onde 400 milhões de almas expressam seus sentimentos em espanhol. Como conseguiram isso?
Deixamos San Cristóbal para trás e chegamos no fim de tarde em Oaxaca, depois de dirigir 9 horas por estradas estreitas, serras, passando pelo meio de pequenas cidades e vilarejos. A compensação foi a beleza das serras escarpadas e úmidas de Chiapas, as encostas secas cheias de cactos da região de Oaxaca, as cadeias de montanhas azuis da Sierra Madre. Esta é a terra da tequila e do mescal, feitos com a pinha de agave, plantados nas encostas das montanhas. Fomos parados para revista três vezes nesse dia pelo exército nacional. Os soldados, mal saídos da adolescência, com dificuldade em sustentar o peso de seus fuzis, abriam nossas malas à procura não sabemos do que. Possivelmente nem eles.
Oaxaca estava lotada de gente neste início de ano. Música em vários lados da praça central, pessoas andando, comendo, vendedores de tudo circulando por todos os lados na noite fria. Tomamos uma tequila com sal e limão e de repende ouvimos um arranjo mexicano de “garota de ipanema”. Este país é o máximo!
Seguimos subindo esse enorme país pela costa do Atlântico, dirigindo pela manhã e parando em pequenas cidades após o almoço, para retomar viagem no dia seguinte. Nesse passo preguiçoso chegamos a Nueva Laredo, fronteira com os Estados Unidos. A estrada estava linda, com sol forte e brilhante. Olhando pelo retrovisor ainda víamos a Puna argentina, o Deserto de Atacama, o costão peruano, a Avenida dos Vulcões no Equador, o Canal do Panamá, as matas virgens da Costa-Rica, o Lago Nicarágua… e assim entramos nos Estados Unidos, relembrando os odores e os sabores desse continente que ingenuamente imaginávamos descoberto por Colombo. Soy loco por ti, América!
GUATEMALA
Entramos na Guatemala por San Cristóban. Era ante-véspera de natal e a fronteira estava toda decorada com papais noeis, meninos jesus, reis magos e manjedouras para lá e para cá. Esse espírito parece que amoleceu nossos corações a ponto de nem nos importarmos com o velho conhecido processo de entrada/saída das fronteira centro-americanas.
Queríamos passar o natal em um lugar tranquilo e bonito. Fomos para Antígua, que por dois séculos foi a capital de toda a centro-américa espanhola, até que um terremoto destruiu metade da cidade em 1717. A população que era estimada em 60 mil habitantes naquela época, hojé é a metade disso. A cidade fica num vale cercada por três vulcões imponentes, a mais de 1.600 metros de altitude. A combinação de traços culturais e étinicos maia com o barroco espanhol dá um ar todo especial ao lugar.
No dia seguinte, fomos conhecer o Lago Atitlan, o mais profundo da centro-américa, considerado um dos mais belos do mundo. Em El Salvador soubemos um pouco da história da segunda mais longa e sangrenta guerra civil centro-americana. Aqui no Lago Atitlan descobrimos que a primeira da lista foi a Guerra Civil da Guatemala, que se extendeu entre 1960 e 1996, com um saldo de 140 mil civis mortos e 44 mil desaparecidos. Dentre eles, 300 maias que viviam no lago e até hoje estão sendo esperados por seus familiares.
A viagem ao lago foi longa, subindo uma serra interminável. Crianças estendiam as mãos à beira do caminho, acenando e pedindo doces. Chegamos a Tamajachel, na borda do lago e atravessamos de barco até San Pedro de La Laguna, do outro lado. Era dia de feira. Gente ocupando a rua toda, dezenas de barracas vendendo de tudo, animais, roupas, frutas, verduras. As mulheres usavam vestidos índios coloridos, os homens batas escuras. As pessoas conversavam num idioma que não compreendíamos. Na praça onde estava a igreja central havia uma referência a uma marcha pacífica de mulheres e crianças que saíram a pé daquele lugar rumo a uma base militar próxima num protesto contra o desaparecimento de seus maridos e pais durante a guerra civil. O protesto foi recebido à bala, em mais uma das atrocidades daqueles tempos.
Passamos o resto do dia em San Pedro, atravessamos o lago no sentido inverso e voltamos para Antígua para nossa ceia. Anoitecia quando chegamos. O trânsito estava caótico. Era noite de natal e todos os automóveis, vans, ônibus do lugar, por algum motivo que desconhecíamos, saíram para as ruas estreitas da cidade ao mesmo tempo nessa noite especial. Só isso pode explicar o que víamos à nossa frente. De repente, num cruzamento perto do hotel onde estávamos, em um momento onde nenhuma regra de trânsito prevalecia, tornou-se impossível proseguir. Nada mais se movia. A ONÇA foi bloqueada por carros à frente, atrás e aos lados. Esses, por sua vez, eram bloqueados por outros, que eram bloqueados por outros.
Travou! Não havia mais condições físicas para os veículos se locomoverem. Uma situação insólita, irreal se não estivéssemos vendo… e ouvindo as buzinas ensandecidas. As pessoas começaram então a deixar seus carros e pular os veículos na rua a caminho de casa. Muitos saíam pelas janelas, quando não havia espaço nem para abrir as portas. Foi o que fizemos. Fora nós, ninguém mais estava estressado. Todos ríam. Pareciam se divertir com aquilo. De repente começaram a soltar rojões. A cidade inteira soltando rojões. Talvez seja esse um costume. Sabe lá. Uma catarse coletiva, largar os carros na rua como que tirando dos ombros o peso de tudo o que foi vivenciado naquele ano e recomeçar aliviado. Deixamos a ONÇA no meio da rua e, pela primeira vez na viagem, tivemos a certeza de que ela não seria roubada naquela noite. Nossa ceia de natal foi inesquecível. Uma garrafa de vinho, um panetone, um banco na praça, estrelas, e um mosaico de carros entalados, num engarrafamento definitivo e final.
Nem tão final assim. Na manhã seguinte o encaixe começou a ser desmontado da única maneira possível: pelas beiradas. Aos poucos, os veículos na periferia do engarrafamento foram sendo retirados pelos seus donos, dando espaço para outras retiradas, e outras, e mais outras. Conseguimos liberar a ONÇA à tarde. O processo durou todo o dia. À noite as ruas voltaram ao normal. Vida nova.
Deixamos Antígua no dia seguinte, 27 de dezembro. Subimos rumo noroeste, passamos o ano novo na Sierra de Chaucus, sem engarrafamentos, e entramos no México.
- San Cristóban, Guatemala
- Antígua, Guatemala
- Cidade da Guatemala, Guatemala
- Sierra de Chaucus, Guatemala
- Antígua, Guatemala
- Lago Atitlán, Guatemala
EL SALVADOR: O REGRESSO
Entramos pela segunda vez em El Salvador, desta vez de carro, em Goascorán. Os trâmites de fronteira foram a tortura de sempre. De lá seguimos para San Salvador, capital.
Há não muito tempo, El Salvador foi palco de uma das mais longas e sangrentas guerras civis da América Latina, terminada em 1992. De um lado, a Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional, uma coalizão de cinco milícias de esquerda. De outro, um governo militar apoiado, adivinhem por quem, pelos Estados Unidos. Entre os dois, 75 mil civis mortos nos anos 80. As marcas desse conflito estão ainda em toda parte. No Museu de Arte de El Salvador, retratos doloridos desse período.
Os lugares de ricos e pobres estão bem demarcados na capital do país. Bairros sofisticados, com shoppings ao ar livre, restaurantes caros e gente bem cuidada andando em bonitos espaços de laser contrastam com uma periferia miserável e violenta e um centro feio, abarrotado de sacoleiros e barraquinhas com todo tipo de bugiganga chinesa. Qualquer semelhança com São Paulo e Rio de Janeiro é mera coincidência?
Tentamos passear pelo centro e conhecer a catedral da cidade, Iglesia El Rosario, mas não conseguimos chegar até ela. Estávamos a pé, indo em direção ao centro da cidade. Quanto mais nos aproximávamos do centro, mais a rua se congestionava de pessoas. Era a semana do natal, e muita gente comprava todo tipo de produtos dos vendedores ambulantes espalhados pela rua e pelas calçadas. Até que a uma quadra da igreja a rua e as calçadas estavam totalmente tomadas de gente a ponto de ser praticamente impossível governar nossos passos na direção escolhida. Algo comparável à estação Sé do metrô paulistano às 18 horas. Voltamos, a tempo de visitar o Museu Arqueológico Universitário, na mesma rua algumas quadras acima. Lá, uma pergunta procurava por respostas numa das salas: quem somos nós? O que nos caracteriza e diferencia El Salvador do resto do mundo?
No dia seguinte, após comermos feijão preto amassado, banana verde frita e ovo estalado (um café da manhã tradicional em toda a Centro-América), ainda passeamos pela cidade para depois seguir em frente. Paramos em Santana, uma cidade pequena em terras altas e montanhosas, a 100 quilômetros da Guatemala. Passamos nossa última noite em El Salvador no melhor hotel da cidade, antigo, grande e decadente, com escadas de mármore que denunciavam um passado de ostentação, e um restaurante escuro e quase vazio, onde jantamos e depois saímos para andar pelo centro. Partimos cedo no dia seguinte, rumo à Guatemala.
HONDURAS
Eram seis e meia da manhã quando saímos de Esteli. Ainda se viam alguns bêbados pela rua. Cem quilômetros adiante chegamos à fronteira no Paso El Espino. Estávamos apreensivos com relação à reação das autoridades de Honduras. Em Costa Rica encontramos um brasileiro radicado na Guatemala, descendo de carro para o Panamá. Disse que foi hostilizado em Honduras. O seu país está causando embaraços para o nosso, policiais hondurenhos disseram a ele na fronteira. Mesmo portando visto, teve que esperar oito horas na fronteira até ser liberada sua entrada.
Era cedo e a Aduana estava relativamente vazia. O agente policial do controle de imigração pediu nossos passaporte, viu que éramos brasileiros, inspecionou nossos vistos, constatou que foram emitidos em El Salvador e se desculpou pelo transtorno que tivemos para obtê-los. Disse que felizmente estavam marcadas eleições para resolver o impasse dos dois presidentes que o país tinha naquele momento, e que após a posse do novo não mais exigiriam vistos de brasileiros. Depois disso, ele nos levou pessoalmente pela gincana de balcões, carimbos, selos e inspeções do processo de entrada, facilitando nossos trâmites. Pelo caminho, falou que tem uma filha, casada com um brasileiro, que mora em Manaus. Tem dois netos amazonenses, que conhece por fotografia apenas.
Em meia hora estávamos liberados. Custamos a acreditar no que acontecera. A fronteira mais temida por nós em toda a América Central foi a mais tranquila e civilizada. A América Central é mesmo imprevisível e surpreendente.
Não passamos nem um dia em Honduras. Cruzamos 170 quilômetros da fronteira com Nicarágua à fronteira com El Salvador em um estirão. Temíamos encontrar pelo caminho simpatizantes do governo golpista, sabe lá o que poderia acontecer. Um temor desnecessário, depois concluímos. Honduras foi o único lugar que rodamos sem nossa bandeira hasteada.
Estávamos em dúvida se levaríamos uma bandeira brasileira hasteada na ONÇA. Pensávamos que talvez fosse um exibicionismo desnecessário. Depois concluímos que foi bastante oportuno ter trazido nossa bandeira. Em primeiro lugar, ela tem sido um fator de aglutinação. Brasileiros radicados em muitas das cidades por onde passamos vieram até nós atraídos pela bandeira, nos cumprimentar, perguntar de que cidade éramos, contar suas histórias, seus sonhos, suas desilusões. Além disso, é surpreendente como a bandeira chama a atenção de moradores locais. Nesta viagem, quantos e quantos argentinos, chilenos, peruanos, equatorianos, panamenhos, costa-riquenhos, nicaraguenses acenaram para nós contando que estiveram no Brasil em tal ano, que têm um parente morando no Brasil, comentando algo sobre alguma celebridade brasileira, ou simplesmente gritando “Brasil, Brasil”. Foram incontáveis histórias saboreadas com prazer, como a de um argentino que fugindo da ditadura foi viver no Braz, onde vendia alho e cebola de porta em porta. Esses contatos com gente simples, alegre, comunicativa enriqueceram muito nossa viagem.
Na hora do almoço cruzamos a fronteira com El Salvador.
NICARÁGUA
Chegamos tarde de volta a San José. Um pouco mal humorados com a situação vivida nos últimos dias. A princípio, ficaríamos alguns dias conhecendo a cidade, o Lago Arenal e seus vulvões ao redor; mas o mal humor modificou nossos planos. Pegamos a ONÇA e seguimos para a Nicarágua. Foram 290 quilômetros de estrada sem acostamento, cheia de caminhões lentos, pontes estreitas, até atingirmos a fronteira. O sol estava forte e a luz maravilhosa. À nossa direita, a cadeia de montanhas que percorre toda a América Central, à esquerda, de vez em quando avistávamos o Pacífico ao longe. Chegamos à fronteira com a Nicarágua na hora do almoço. O lugar era ainda mais confuso que as fronteiras anteriores. Filas de caminhões a perder de vista. Caminhoneiros acampados há dias esperando sua vez para a inspeção. Nossos trâmites foram mais tortuosos e complexos que os vividos na passagem do Panamá para a Costa Rica. Mas, já estávamos calejados. Tiramos de letra. Pensamos até em, quem sabe, um dia escrever o “Manual das Fronteiras Latino-Americanas”. Um passo-a-passo, ilustrado, com informações e dicas para o auto-turista aventureiro.
Deixamos a fronteira para trás e tudo melhorou. Logo nos primeiros minutos apareceu o Vulcão Conception, ao lado de outro, o Madera, no imenso Lago Nicarágua. As vilas no caminho para Manágua, capital do país, são diferentes, com casas coloridas, muita gente na rua, bicicletas, mototaxis transitando para todo lado debaixo de um sol escaldante.
No fim da tarde entramos em Manágua. Para nós que vivemos com intensidade os anos 1970, é impossível não lembrar das imagens do ditador patrocinado pelo governo americano fugindo do país e da Frente Sandinista de Libertação Nacional entrando em Manágua. Em entrevista recente, um escritor nicaraguense que militou na FSLN descreveu assim o clima vivido naquele momento: “Nós nos sentíamos com o poder de varrer o passado, estabelecer o reino da justiça, repartir a terra, ensinar todos a ler, abolir os velhos privilégios, restabelecer a independência da Nicarágua e devolver aos humildes a dignidade que lhes havia sido arrebatada por séculos”. A julgar pelo que vemos, a batalha foi dura. Após uma guerra civil cruenta por quase uma década, e um embargo econômico imoral imposto pelos Estados Unidos, a Nicarágua segue como o segundo país mais pobre do continente americano e o segundo menor PIB do mundo.
Andar por Manágua foi uma experiência que desafiou ao limite nosso senso de orientação. As ruas não têm nome e as casas não têm número. Os endereços são ditos mais ou menos assim: de los semáforos, dos cuadras arriba, una cuadra al lago, casa esquinera. Neste ambiente é vital termos uma orientação geográfico-espacial, coisa que não é comum no Brasil. Depois de muito errar, conseguimos incorporar ao nosso vocabulário o modo como os locais se referem às quatro direções cardeais: al lago (para o norte, que é onde fica o Lago Xelotlán), arriba (para o leste, direção onde o sol sobe do horizonte), al sur (para o sul, essa é fácil), abajo (para o oeste, direção onde o sol desce no horizonte). Rodamos uns sete quilômetros dentro da cidade até chegarmos à Plaza de La Revolución, e de lá fomos a pé até a Laguna de Tiscapa, apenas para conhecer a enorme e bela estátua do General Sandino, o mais conhecido símbolo de Manágua.
Manágua não é propriamente uma cidade acolhedora e aconchegante. No dia seguinte partimos rumo norte para Esteli, a 100 quilômetros da fronteira com Honduras, onde passamos um dia. Um dia especial pois, por sorte, chegamos quando acontecia a grande festa do ano: la fiesta patronale. Foi impossível conseguir um hotel. A cidade estava lotada. Desfiles com cavaleiros fantasiados, barraquinhas com comida espalhadas pelas praças, bandas, e uma multidão de todas as idades dançando nas ruas o dia todo. No final do dia, paramos a ONÇA numa praça periférica, armamos a barraca de teto e dormimos ao som das bandas ao longe. Saímos cedo para Honduras na manhã seguinte. Em nossa praça, bêbados dormiam felizes no chão.
EL SALVADOR: A MISSÃO
O avião saiu no horário e depois de uma hora aterrizamos em San Salvador. O aeroporto fica no litoral e a cidade no pé das montanhas, a 47 quilômetros dali. Pegamos um taxi e às 8 e 45 estávamos na Embaixada de Honduras. Organizada, estremamente policiada e quase vazia. Preenchemos formulários de praxe, entregamos nossos passaportes e pagamos 30 dólares cada um a uma atendente num balcão. Depois de 30 minutos, recebemos os passaportes de volta com os vistos estampados. Válido por 30 dias para uma única entrada. Nem uma entrevista. Nem uma pergunta. Nem sequer um sorriso da atendente.
Com os vistos no bolso, voltamos para o aeroporto a tempo de pegar um vôo no mesmo dia de volta a San José. Apesar de termos cumprido nossa missão, nos sentimos miseráveis naquela tarde. Um maluco, respaldado por um punhado de poderosinhos locais e soldados truculentos, tomou de assalto a palácio do governo e mandou o presidente, ainda de pijamas, para o exílio. Está certo que o presidente não era nenhum santo, mas há modos mais civilizados de resolver desavenças. E, dentre tantas consequências desse ato, uma delas, das menores, foi essa peripécia toda que tivemos que fazer para simplesmente poder transitar por míseros 140 quilômetros em Honduras. Este foi o visto mais caro do mundo.
COSTA RICA
Como de costume, cruzar a fronteira foi uma tarefa difícil, um exercício de paciência e perseverança. Estávamos em Paso Canoa, cidade fronteiriça entre o Panamá e a Costa Rica. Uma pequena multidão de pessoas se aglomerava do lado panamenho, tentando atravessar. Ônibus chegavam a todo momento. Carros, motos, taxis, pessoas vindas a pé, chegando, chegando, chegando. Dezenas, talvez centenas de caminhões faziam fila para inspeção. Um garoto veio conversar e não se desgrudou de nós um só minuto nas mais de duas horas que passamos na fronteira. O menino nos levou de guichê em guichê no tortuoso labirinto do processo de saída/entrada. Ía nos instruindo enquanto carimbávamos os passaportes, preenchíamos guias de saída e de entrada da ONÇA, comprávamos selos de diversas naturezas, pagávamos impostos municipais, estaduais, federais. Depois, chamou o agente da Aduana, o agente do Ministério da Agricultura, o agente da polícia anti-tráfico e muitos outros agenes disso e daquilo para diferentes verificações na ONÇA. Todos conheciam o menino. Os fiscais, de verdade, não fiscalizavam nada. Ouviam o menino dizer que podia nos liberar, davam uma olhada no carro, meio de longe, trocavam algumas palavras conosco e assinavam nossos papéis. Por fim, o menino ainda nos levou a um lugar para a ONÇA receber uma ducha de algum suposto pesticida. O garoto era bem humorado e muito falante. Nos divertimos com ele. Contou que esse era seu trabalho. Morava alí perto, do lado panamenho, não tinha pai, passava fome, e, para ajudar em casa, todo dia ía muito cedo para a fronteira passar os gringos de um lado para o outro. Não é fácil seu ofício, disse. Tem muita concorrência. Muito garoto e pouco gringo para atravessar. No final do processo, depois do último carimbo e último selo, veio a fatura: dez dólares. Um roubo pedir pagamento por algo, a rigor, ilegal? Uma ninharia frente ao tempo que ele nos economizou? Errado estimular o subemprego de uma criança que deveria estar na escola? Correto ajudar alguém necessitado? Não soubemos avaliar. Pagamos o menino e fomos embora felizes por deixar aquele lugar e seguir viagem.
Logo de início, algumas coisas chamaram a atenção na Costa Rica. As estradas pioraram muito, buracos, uma quantidade enorme de caminhões, falta de acostamento. Apesar disso, a paisagem compensava. A partir de Paso Canoa, rodamos duzentos e cinquenta quilômetros atravessando florestas tropicais primárias, densas e exuberantes. Trinta e cinco porcento do território da Costa Rica é contituído por Parques Nacionais. Chegamos a Quepos, um destino popular no litoral sul, e logo fomos para o Parque Nacional Manoel António, uma reserva de mata tropical à beira do Pacífico. Passamos dois dias acampados no parque, numa praia cheia de coqueiros, árvores frondosas e muitas pedras vulcânicas. Fez sol forte durante os dias e lua cheia durante as noites. Nosso plano era ficar ali uma semana, mas tínhamos uma missão difícil pela frente.
Para subir de carro para os Estados Unidos, não há como não cruzar Honduras, pois esse país ocupa uma faixa contínua de terra do Atlântico ao Pacífico. Até aí, tudo bem. Cruzar países de carro tem sido nossa especialidade nas últimas semanas. Mas, o presidente hondurenho foi deposto num golpe militar poucos meses antes de sairmos de Campinas. Sem problemas. Golpes de estado não são eventos raros na América Latina. Mas o que complicou nossa vida foi que o presidente deposto, que estava no exílio, resolveu de repente voltar para Honduras durante a nossa viagem, e, deposto que estava, foi se abrigar justamente na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa, capital do país. Consequentemente, para retaliar o apoio brasileiro ao presidente deposto, o governo golpista passou a exigir visto de entrada no país para brasileiros. Estávamos na Costa Rica quando soubemos disso. Evidentemente, não tínhamos esse visto e tínhamos que cumprir essa exigência se quiséssemos seguir viagem. Deixamos prematuramente o Parque Nacional Manuel António e fomos para São José, capital da Costa Rica, procurar a embaixada hondurenha para solicitar o visto.
A embaixada estava às moscas quando lá chegamos. Apenas uma funcionária informava que após o golpe os funcionários cortaram relações com o governo. Se alguém nos contasse não acreditaríamos. Um grupo de funcionários especializados em manter relações com outros países cortou relações com o seu próprio país!!! Incrível. A América Central é realmente surpreendente. Quando os diplomatas renunciam, quem faz diplomacia? Estávamos desolados. Nossa viagem corria o risco de terminar ali, na borda de Honduras. O que fazer?
Fomos então buscar uma luz na embaixada brasileira na Costa Rica. Falamos diretamente com o embaixador, figura simpática que nos atendeu muito bem. Ele nos disse que as embaixadas hondurenhas de toda a América Central estavam paralisadas porque não reconheciam o governo golpista. A situação era crítica. Apenas a embaixada hondurenha em El Salvador estava funcionando normalmente porque, por razões fortuítas, o embaixador hondurenho lá era amigo do presidente golpista. Então, se havia algum lugar onde poderíamos obter o visto, este lugar era El Salvador. Só que El Salvador fica DEPOIS de Honduras. Nos imaginamos chegando na fronteira com Honduras…
– Buenos dias, amigos. Passaporte si?
– Acá estan, señor.
– Ah, Brasileños, e donde está el bisto de entrada?
– No lo tenemos, señor. Mas estamos indo aorita para El Salvador buscá-lo. Depues volveremos aca e entraremos nuevamente com los bistos, puede ser?
– Carajo! Están se rindo de mi?
Pois é, para pegar o visto tínhamos antes que cruzar Honduras. Para cruzar Honduras tínhamos antes que pegar o visto. Isto é o que chamamos de uma insolubilidade político-geográfica. Só se passássemos por cima de Honduras. E foi isso que fizemos. Pela segunda vez nesta viagem nos separamos da ONÇA. Ela ficou no estacionamento do hotel em San José e nós pegamos um avião para San Salvador, capital de El Salvador.
PANAMÁ
Voamos de Quito para a Cidade do Panamá, onde chegamos tarde da noite. Não havia transporte público para o centro da cidade, que fica 30 quilômetros distante. Não havia informações. Conversamos com um policial que nos indicou um senhor para nos levar para o centro em seu próprio carro, por 30 dólares. Oferecemos 25 e ele aceitou. Viemos por caminhos escuros, periferia brava da cidade. Por alguns momentos pensamos que estávamos sendo sequestrados, levados para um terreno baldio, onde o pior estava para acontecer. Foi um enorme susto. Juramos que nunca mais na vida tomaríamos um taxi pirata. O motorista corria feito louco e não falava uma só palavra. Estávamos totalmente em suas mãos. Apenas o rádio do carro quebrava o silêncio com músicas caribenhas entrecortadas por notícias policiais. Depois de uma hora de loucuras no trânsito, finalmente chegamos ao nosso hotel. No dia seguinte, logo cedo, iniciamos os trâmites para a retirada da ONÇA do Puerto Balboa, onde ela havia chegado há um dia.
Duas coisas nos chamaram a atenção na Cidade do Panamá. A primeira é a insegurança. Não fomos vítimas nem presenciamos nenhum ato de violência. Mas, parece que ela está ali, espreitando na próxima esquina. Há soldados armados até os dentes andando por todo lugar. As rádios noticiam crimes a todo momento. No hotel, os funcionários nos recomendam muito cuidado nas ruas, sair apenas com o mínimo necessário. Andar à noite, desaconselhado. Há seguranças particulares com escopetas nas portas dos supermercados. Os motoristas de taxi apontam lugares proibidos. Balas perdidas… Não fosse tudo isso muito familiar a nós, campineiros, estaríamos em pânico. Outra coisa que chama a atenção é o jeitão “Torre de Babel” que esse lugar tem. Para a sua sorte e o seu azar, o Panamá separa por apenas algumas dezenas de quilômetros os dois oceanos mais importantes do planeta. Por isso esse lugar atraiu tanto interesse e tanta gente desde o século XVI. Talvez a grande característica aqui seja a falta de característica. Africanos, asiáticos, europeus, americanos, todos deixaram suas marcas. E o que é de todos não é de ninguém.
A cidade é cheia de contrastes, como várias na América Latina. De um lado, a miséria, o desemprego, os cortiços, a violência. De outro, a sofisticação dos centros comerciais, dos shoppings centers refinadíssimos, dos prédios altos e imponentes da orla do Pacífico. Também há um ar nostálgico, caribenho, colorido nas ruas e no centro antigo, que lembra os anos 50. Encantador!
Conhecemos no sul da cidade as ruínas de Panamá Viejo, precursora da Cidade do Panamá, destruída por um ataque pirata no século XVI. Foi abandonada e a vida recomeçou alguns quilômetros ao norte.
É inverno no Panamá, o que significa chuvas tropicais rápidas, diárias, sol forte e calor úmido de 30 a 35oC. Este clima, contribuiu para as grandes epidemias de febre amarela, cólera e malária no passado, principalmente durante a construção da ferrovia e do Canal que ligam os oceanos. “Cidade pestilenta”, diziam.
O Canal certamente é estratégico para a economia do país. Passamos um dia conhecendo-o em detalhes. Uma passagem entre dois oceanos! Um sonho de muitos séculos, realizado ao custo de milhares de vidas de trabalhadores de todas as partes do globo. Encontrar uma passagem do Atlântico para o Pacífico é um sonho antigo. Em 1513 o aventureiro espanhol Vasco Núñes de Balboa, na costa atlântica do que seria hoje o Panamá, soube dos nativos locais que não muito longe dali, rumo oeste, havia outro oceano. Curioso, cruzou as montanhas do centro da penísnula e no dia 25 de setembro daquele ano tornou-se o primeiro europeu a enxergar o Pacífico. A notícia se espalhou pela Europa e logo tentativas de encontrar um caminho navegável entre os dois oceanos foram feitas. Em 1520, o português Fernão de Magalhães, a serviço da coroa espanhola, descobriu uma passagem no extremo sul do continente americano. Mas a viagem por ali era muito longa e arriscada, levando a que se propusesse uma abertura artificial entre os dois oceanos, onde as condições geográficas fossem as mais propícias. Nascia o sonho do canal.
E as melhores condições geográficas para a empreita estavam no Istmo do Panamá, a relativamente estreita porção de terra que liga a América do Sul à América do norte. Mais precisamente, o melhor lugar para construir o canal ficava na altura da Cidade do Panamá, onde a distância que separa os dois oceanos é de cerca de 80 quilômetros. Ao final do século XIX essa região se insurgiu contra a Colômbia, da qual fazia parte, e tornou-se um estado independente em 1903. Isto é, mais ou menos independente. Na luta pela independência os rebeldes panamenhos foram apoiados pelos Estados Unidos, que sonhavam em controlar economica e militarmente a passagem entre os dois oceanos. Os americanos afrontaram diplomática e militarmente a Colômbia, em troca da concessão panamenha para terminar a construção do canal (que havia sido iniciada por uma equipe francesa) e do arrendamento de uma faixa de terra ao seu redor. E foi o que aconteceu. Os Estados Unidos terminaram a construção do canal em 1913 e controlaram todo seu funcionamento desde então. Apenas no último dia do século XX o Panamá recuperou a soberania sobre o canal e seu território.
É nítida da presença americana na Zona do Canal; bairros inteiros, culinária, palavras faladas na rua, nomes de praças, monumentos… Até hoje a moeda local é o dolar americano. A obtenção da soberania sobre o canal aparentemente não melhorou a vida do panamenho comum. Ouve-se em todo lugar que a vida piorou depois que os “gringos” foram embora, não porque eles eram bons, mas porque o governo local é ainda pior.
Os trâmites para a liberação da ONÇA em Puerto Balboa demoraram dois dias. Vencida uma buro-corrupto-cracia infernal, ela finalmente saiu do “contenedor” ávida por novas aventuras. Caiu na Ruta Panamericana e zuniu rumo norte.
Começou enfim a etapa centro-americana de nossa viagem. Chovia torrencialmente quando deixamos o porto. Entramos pelo “interiorzão” do Panamá. Rodamos muito naquele dia. A paisagem continuou a mesma, mata tropical úmida, planície, um calor de 39 graus centígrados, amenizado apenas por pancadas de chuvas fortes e rápidas. Mas a paisagem social mudou radicalmente. Os shopings centers sofisticados e os becos do centro alvejados de balas perdidas de favelas adjacentes ficaram para trás. Por aqui, pequenas cidades do interior, movimentadas por gente andando em bicicletas, em lombo de burros, em ônibus lotados pelas ruas sombreadas e estradas estreitas.
Paramos em Santiago de Verágua, apenas para dormir, em um hotel muito conveniente à beira da Ruta Panamericana. Aproveitamos para arrumar a caçamba, reorganizar a bagagem e deixar tudo pronto para essa nova etapa da viagem. Tomamos cerveja local e jantamos peixe no restaurante do hotel, servido por senhoras idosas e bem humoradas. No dia seguinte continuamos subindo a Panamericana e cruzamos a fronteira com a Costa Rica em Paso Canoa.
EQUADOR
Entramos no Equador pela cidade de Huaquillas. Os trâmites foram difíceis. A primeira dificuldade foi encontrar a Aduana. Entramos pela “ponte nova”, vindos de Zurumilla, no Peru. Mas a Aduana fica na “ponte velha”. Foram horas de desacerto procurando essa ponte. Não havia uma placa sequer indicando um lugar tão obviamente procurado. Conversamos com muita gente atenciosa nas ruas, pedindo informações. Mas a comunicação estava particularmente difícil naquele dia.
Não falamos espanhol com fluência, nem o pessoal aqui entende português. Mas, além da barreira do idioma, tem outras dificuldades que às vezes emperram nossa orientação pelas ruas. Uma delas, que custamos a perceber, é que as palavras “derecha” e “izquierda” nem sempre querem dizer direita e esquerda como entendemos no Brasil. Em cerca de 40% das vezes que nossos interlocutores nos mandam virar para a “derecha”, na verdade devemos ir para a esquerda. Apelidamos essa direção de “la otra derecha”. Tem também “la otra izquierda”, esta curiosamente menos frequente (uns 20% de incidência, em nossa estatística). Uma boa dica é olhar para as mãos da pessoa. As mãos não erram. Se o hermano nos manda para a “derecha” e aponta para a esquerda, é para lá que temos que ir. Para melhorar nossa vida, criamos o FCD, fator de correção de distância, estimado aqui no Equador como em torno de 2,5. Se dizem que fica duas quadras adiante, pode esperar que são mais ou menos cinco. Se dizem que faltam quatro quilômetros para chegarmos, faltam uns dez. E assim vai.
Depois de muito desatino pelas ruas e ruelas de Huaquillas, finalmente encontramos a ponte velha. Mas cadê a Aduana? Não existe uma placa dizendo coisas óbvias, como “Bienvenido a Ecuador”, contendo instruções para os trâmites de imigração. A ponte velha é uma estrutura de cimento e ferro que liga a balbúrdia peruana à desordem equatoriana. Uma multidão circula caoticamente pela ponte. Crianças empurrando carrinhos de mão cheios de frutas, moto-taxis, animais, vendedores ambulantes, músicos, trocadores de dinheiro, soldados, batedores de carteira, carrinhos de comida se movimentando em todas as direções.
Deixamos a ONÇA no meio-fio e saímos procurando. Avistamos uma portinha com um policial fardado na frente e desconfiamos que era ali. E era! Encontramos. Mas o guarda não conseguia entender o nosso caso. Um carro, do Brasil, entrando no Equador, e que não iria voltar por ali. Além disso, ele não conseguia registrar os nossos dados no sistema de informações recentemente computadorizado da Aduana. Quando entrava a marca e o ano da ONÇA não havia o modelo correto. Tentamos “enganar” o sistema (foi sugestão do guarda) colocando outro modelo, mas aí o tal sistema não aceitava o número do chassi. O sistema também queria saber por qual estrada sairíamos do país, mas a ONÇA sairá por um porto. Desnecessário dizer que essa opção não existia no sistema. Depois de uma hora e meia tentando várias alternativas, fomos registrados como um Jeep 1992 sem modelo especificado, chassi desconhecido, que sairá do país pela Colômbia. Finalizado o processo, o guarda gravou os dados num pen-drive e saiu a pé para a cidade a procura de um lugar para imprimir o documento gerado. Uma hora mais tarde voltou sorrindo com duas folhas impressas, nos entregou, e, como sempre, “buena viaje”. No início essa situação toda gerou muito estresse. Mas depois de algum tempo relaxamos, esquecemos nossos planos para o dia e começamos a nos divertir com essa experiência surrealista.
A boa notícia do dia foi o preço do diesel. Convertido em reais, o litro custava 40 centavos. Mas junto veio a má notícia: não tinha. O combustível estava racionado no país. Andamos por vários postos com o ponteirinho na reserva e o coração na mão, até que encontramos uma fila imensa na frente de um posto com combustível. Abastecemos. Ôh dia complicado esse! Resolvemos passar a noite em Huaquilla mesmo e seguir viagem no dia seguinte.
Na manhã seguinte partimos para Guayaquil. Foram 190 quilômetros de uma estrada muito movimentada, pista única, ladeada em boa parte por imensos bananais. Guayaquil é uma cidade grande e moderna, se comparada a outras equatorianas. Sua maior atração é o Malecón, um parque com jardins e atrações populares com cerca de 3,5 quilômetros de extensão à margem esquerda do Rio Guyas. Nele, pobres e ricos passeiam lado a lado por praças, quadras esportivas, lojas de artesanato, cinemas, museus, sempre de frente para o enorme rio. O Malecón chega até a ponta da foz do Guyas, onde ficava um grande forte que protegia a cidade contra piratas. Hoje o forte é um centro preservado que conta parte desta história. O prato feito é bom e barato e a cerveja deliciosa na beira do rio.
A fronteira entre a América do Sul e a América Central é uma área não muito grande de floresta densa e terra alagadiça, chamada Dárien Gap, que une a Província de Dárien no Panamá à Província de Choco na Colômbia. Pouquíssimos aventureiros no mundo cruzaram o Dárien Gap de carro ou moto. Não existe um caminho trafegável cruzando essa região. Consequentemente, não há como sair de carro da América do Sul e chegar na América Central. Para o motorista obstinado, as opções viáveis são embarcar o carro do Equador ou da Venezuela para o Panamá.
Nossa grande tarefa em Guayaquil era embarcar a ONÇA para a Cidade do Panamá. Este foi um lento e burocrático processo. Imaginávamos que chegaríamos em um balcão de uma transportadora marítma e resolveríamos tudo ali. Engano. Simplificando a estória, tivemos que contratar uma agência despachante, que preparou uma série de documentos, inclusive, com nossa ajuda, uma lista descrevendo, em espanhol, tudo o que havia dentro da ONÇA. Depois disso, solicitamos à polícia equatoriana um documento descrevendo nosso “histórico de entradas” no Equador. Esse foi um papel timbrado simplesmente dizendo que entramos no país uma única vez, no dia tal, e nos encontramos até o presente no país. Para que isso? Nunca soubemos. De posse de todos os documentos, levamos a ONÇA para um terminal de transportes, onde ela foi colocada num container e enviada para um pátio da polícia equatoriana. Lá, ela foi retirada do container, inspecionada minuciosamente pela polícia anti-narcóticos (com cães farejadores), recolocada no container e enfim enviada ao convés do navio de carga contratado. O processo todo durou 7 dias úteis.
Deixamos a ONÇA no convés do navio e seguimos de mochila para a cidade de Cuenca. Tínhamos alguns dias de folga e aproveitamos para conhecer um pouco do Equador. Para chegar a Cuenca, subimos uma serra escarpada, que chegou a 3.800 metros de altitude. O ônibus, velho, apinhado de gente, serpenteou por pequenos povoados encrustrados em vales e canions profundos. As montanhas são verdes, cobertas de vegetação. A paisagem lembra um pouco as terras altas da Mantiqueira, diferente dos caminhos montanhosos por onde passamos na Argentina, Chile e Peru, onde só havia areia e pedras nas encostas. A estrada era ruim. Não deu para saber se era asfaltada com longos trechos de terra, ou de terra com alguns trechos de asfalto. Mas o melhor cenário estava dentro do ônibus. Mães com crianças de todas as idades, trabalhadores braçais carregando enxadas e outros instrumentos de trabalho, idosos trajando roupas tradicionais e muito coloridas, todos conversando alto entre si, animadamente. Um homem carregava um porco assado inteiro, pendurado em um gancho que ficou amarrado no porta-malas, isto é encima do capô do ônibus. Finalmente chegamos à praça central de Cuenca, 2.700 metros de altitude. Esta é uma típica cidade colonial, com sua Praça de Armas central ostentando casarios que um dia serviram a autoridades administrativas e religiosas espanholas. Ficamos alguns dias em Cuenca e seguimos numa van com alguns turistas de várias nacionalidades rumo a Quito, capital do Equador. Seguimos pela assim chamada Avenida dos Vulcões: um longo vale incrustrado nos Andes, de onde se podem avistar dezenas de vulcões, entre eles os famosos Chiborazo e Cotopaxi (as duas mais altas montanhas do Equador, com 6.268 e 5.897 metros de altitude, respectivamente, ainda em atividade). Esta é uma região para grandes caminhadas, ar rarefeito e fresco e muita contemplação. Ficaríamos semanas por aqui. Mas, infelizmente, a ONÇA já estava no Pacífico. Tinhamos um encontro com ela em alguns dias, o que apressou nosso passo.
Apenas pernoitamos num vilarejo no meio do caminho para chegar no dia seguinte a San Francisco de Quito, ou, simplesmente, Quito, a capital do país. Grave e majestosa são dois adjetivos que se aplicam a essa que foi a primeira cidade do mundo a ser declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A segunda mais alta capital do planeta, com mais de 2.800 metros de altitude, Quito é realmente deslumbrante, uma jóia encrustrada nas montanhas. Sua beleza fez com que seja conhecida por vários superlativos. Florença da América, pela riqueza de seus museus e templos. Luz da América, por ter incubado movimentos rebeldes que contribuíram para a transformação de algumas colônias espanholas em países independentes. E tantos outros …da América. O lado grave, um pouco escuro, nevoado e pesado da cidade contribuiu para que ela seja também chamada de A Cidade das Lendas. Uma delas fala do padre Manuel Almeida, que aos 17 anos renunciou a toda a sua fortuna e se ordenou noviço no Convento Seráfico de Quito, onde seguiu carreira monástica. Apesar de ter renunciado a todos os seus bens, não renunciou à vida boêmia que levava. Durante anos, escapava todas as noites do convento, e passava a noite tocando violão em festas pagãs. Para tanto, fugia através de um alçapão no teto da capela principal, escalando uma grande escultura de Jesus Crucificado, subindo nos ombros do Próprio e pulando para agarrar a passagem no teto. Numa das noites, Jesus abriu os olhos, se virou para o padre boêmio, que já estava em seus ombros se preparando para pular no alçapão, e perguntou solene:
– Hasta quando, Padre Almeida?
O padre se assustou mas não perdeu a compostura. Respondeu respeitosamente:
– Hasta la vuelta, señor!
E pulou alçapão adentro para cair em mais uma noite de orgia.
Dentre tantas características, Quito tem também o privilégio de ser “visitada” pela linha do equador, que passa alguns quilômetros ao norte do centro da cidade, num lugar chamado pelos locais de La Mitad Del Mundo. Um pedaço de terra é apenas um pedaço de terra, mas quando é cruzado pelo equador ganha um significado diferente. Existe lá um enorme monumento que marca Latitude 0 00 00, onde pessoas em hemisférios diferentes podem se tocar e conversar frente a frente alegremente.
Deixamos Quito com uma sensação que voltaríamos em breve e voamos para a Cidade do Panamá para encontrar a ONÇA e seguir viagem.
- embarque da ONÇA em Guayaquil
- Avenida dos Vulcões
- Avenida dos Vulcões
- vendedores em Cuenca
- Quito
- Rita com um pé em cada hemisfério
PERU
Não adiantou chegar cedo à fronteira Arica (Chile) / Concordia (Peru). O expediente só abria às 8 horas. A passagem consumiu exatas duas horas e trinta e cinco minutos. Do lado chileno foram apenas dois carimbos. Mas, do lado peruano ganhamos oito carimbadas diferentes em nossos papéis. Tivemos que tratar com agentes da aduana, do exército, da agricultura, da saúde, do trânsito, etc. O que mais demorou foi retirar todas as caixas da caçamba e passá-las por um escâner que ficava em um prédio longe do estacionamento. Depois, nos fizeram abrir as mochilas para revista. O laptop teve que ser declarado em formulário próprio. O driver externo foi declarado em outro formulário. A caixa de peças de reposição da ONÇA causou o maior dos embaraços nesse embaraçado processo. Os guardas não sabiam o que fazer com aquilo. Não sabiam se abriam mais um formulário ou se confiscavam a caixa toda alegando que era contrabando de peças para revenda no país. Depois de várias consultas entre si, deixaram quieto. A caixa entrou sem formulário e sem carimbo!
Vencida a batalha da fronteira, seguimos para Arequipa, 400 quilômetros rumo noroeste. Logo notamos que estávamos em outro país. O povo tem traço mais andino, menos “europeu” em relação ao Chile. Também parecem ser mais comunicativos, falantes, coloridos, barulhentos. As cidades são mais desorganizadas do que as de mesmo porte por onde passamos na Argentina e no Chile, com barraquinhas de comércio miúdo espalhadas por todos os cantos. Mas talvez o que mais chame a atenção de quem entra de carro no Peru vindo do sul seja o trânsito.
Passamos vários dias no Peru, rodando por estradas, trilhas, e pequenas, médias e grandes cidades. Dirigir aqui é uma experiência de tirar o fôlego. Nas cidades, as ruas são tomadas por multidões de pequenos taxis, mototaxis e lotações apinhadas de gente rodando em todas as direções e buzinando alucinadamente sem motivo aparente. Parece que a única comunicação existente entre motoristas e os demais seres do planeta se dá por meio das buzinas. Sem nenhuma sinalização prévia, carros cruzam da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, invertem o sentido do trajeto e buzinam, buzinam, buzinam. A maioria dos cruzamentos não tem semáforos. E quando existem, a luz vermelha é apenas uma sugestão de parada. Os pedestres não têm vez, e as faixas de pedestres, ha ha ha… A noção de preferencial não existe. Nos cruzamentos negocia-se meio por telepatia quem entra e quem espera. É interessante que a gente acaba aprendendo esse jogo. No começo ficávamos paralisados, em pânico, diante de um cruzamento. Depois de alguns dias, fomos nos soltando, e, de repente, pronto, a gente entrava no meio da confusão caótica de carros, motos e microônibus e participava do jogo.
No primeiro dia, foi um estradão só até Arequipa. Chegamos no final da tarde. A cidade é alta (cerca de 2.400 metros acima do nível do mar), enorme e sem sinalização. Depois de Lima, é a maior do país, com um milhão de habitantes. É circundada por três impressionantes vulcões: Misti, Pichu Pichu e Chachani, avistados de todos os lugares. Entre a periferia e o centro histórico, um oceano de ruas, carros e gente. Andar pelo centro de Arequipa compensa qualquer dificuldade em chegar até ele. Aqui a cidade é branca, contruída com pedras vulcânicas claras, chamadas sillar. Os tons claros conferem um aspecto austero e elegante ao lugar.
A Plaza de las Armas é imponente, com sua majestosa catedral espanhola, prédios com arcos ao redor. Particularmente naquele dia havia uma festa de final de ano das escolas. Famílias enormes, cheias de crianças e idosos vestidos com roupas de festa, se espalhavam pelas calçadas ao redor da igreja, pelas escadarias dos prédios públicos e jardim da praça. Passamos horas sentados num banco de pedra, vendo o movimento, andando por ali, tirando fotos. No começo da noite, de um terraço donde se avistava as torres da catedral, comemos um maravilhoso e confiável ceviche.
O Mosteiro de Santa Catalina é experiência a parte, uma verdadeira cidade dentro da cidade, onde várias gerações de monjas católicas viveram em claustro por 370 anos. Silêncio é o que se lê na praça central do mosteiro, onde freiras em silêncio passavam o dia lendo o evangélio. As estórias dessas mulheres que viveram por séculos nesse lugar são impressionantes.
Esquadrinhamos Arequipa em alguns dias e partimos rumo noroeste. Cerca de 170 quilômetros adiante, entramos num dos mais profundos cânions do planeta, chamado Cañon Del Colca, que numa extensão de 100 quilômetros chega a atingir 3.400 metros de profundidade. O caminho é belíssimo. Rodeamos escarpas, atravessamos uma reserva ecológica cheia de guanacos e vicunhas ao redor de pequenos lagos chamados aguadas blancas. Subimos até 4.890 metros de altitude e rodamos uma hora acima dos 4.300, até iniciarmos a descida para Chivay, a vila maiorzinha da região, no fundo do vale, a 3.750 metros. Ao redor, pequenos vilarejos à beira deste vale, cujas encostas são recortadas por terraços construídos há 2.000 anos, pelos povos Cabanas e Collaguas, para armazenar grãos e coletar água.
Passaríamos uma eternidade neste vale, pastoreando llamas e alpacas, contemplando o vôo dos condores que saem dos picos nevados, vendo a lua nascer detrás das montanhas, convivendo com homens e mulheres que arrancam da terra sua sobrevivência. Mas a viagem tem que continuar e após alguns dias seguimos para o litoral. Pegamos novamente a Ruta Panamericana e continuamos subindo margeando o Pacífico.
A descida para o litoral talvez tenha sido o trecho mais deslumbrante da viagem até aqui. Pista única. À esquerda um costão de pedras vulcânicas, escarpas altíssimas e praias desertas. À direita altas montanhas e vulcões extintos. À frente o jeito peruano de dirigir, que torna tudo mais “emocionante”. Ultrapassam na faixa contínua, entram na estrada sem sinalizar, param na pista, e buzinam, buzinam, buzinam. Curiosamente, não há brigas nem animosidade no trânsito. Ninguém parece se incomodar com esses sobressaltos e riscos constantes.
Rodamos rumo norte vários dias, sempre tendo o Pacífico à nossa esquerda. O vento que vem do mar inunda a pista de areia. Há trechos onde o asfalto some. Durante o dia dirigíamos. Ao entardecer acampávamos nas praias desertas e de águas geladas do Peru. Muito espaço, privacidade e vista para o mar. Não há cinco estrelas que superem nossos acampamentos na areia. A rotina foi quebrada apenas quando cruzamos Lima. Só quem já tentou sair de São Paulo numa sexta-feira, fim de tarde, com chuva e véspera de feriado imagina o que é cruzar essa cidade de sul a norte.
Um dia e uma noite em Lima nos levaram por encanto e acaso a nos hospedar na casa de Victor Delfin, artista plástico peruano que vive num casarão belíssimo no alto da encosta, no bairro Barranca, onde aluga alguns quartos para viajantes. Do jardim, cheio de esculturas sedutoras, vê-se o Pacifico. Os cômodos e salões são repletos de quadros e esculturas vibrantes, coloridas, criadas por ele ao longo da vida.
Saindo de Lima voltamos à rotina dos acampamentos na praia. Sempre iguais e sempre diferentes. Por fim chegamos a Trujillo, cidade litorânea, a terceira maior do Peru. Esta cidade tem alguns tesouros arqueológicos. O mais deslumbrante é uma cidade de adobe, Chan-Chan, que aos poucos tem sido desenterrada desvelando a vida na época pré-incaica. São rendilhados de argila rodeando os lugares sagrados de um povo que vivia da pesca. Após alguns dias conhecendo a região de Trujillo, deixamos o país pela fronteira Zarumilla (Peru) / Huaquillas (Equador).
Cruzamos o Peru de sul a norte. Da fronteira com o Chile à fronteira com o Equador, rodamos 3.099 km, em 47 horas de direção. Não foi muito tempo. Mas a experiência foi tão intensa que saímos com uma boa noção desse adorável país. Rodamos por montanhas altas e geladas, vales e canyons profundos, desertos enormes e mar, muito mar. E o povo, é ainda mais bonito que as paisagens. Faltou a amazônia peruana. Fica para a próxima. Como disse um peruano que se tornou nosso amigo, os olhos ficam pequenos em meio a tanta beleza.
- Arequipa
- Arequipa
- Arequipa
- Arequipa
- Arequipa
- Convento em Arequipa
- Cañon Del Colca
- Cañon Del Colca
- menina no Cañon del Colca
- menino no Cañon del Colca
- Praia
- Areia invadindo a Ruta Panamericana
- Arrozal ao longo da costa
- Trujillo
CHILE
Entramos no Chile, vindos de San Antônio de los Cobres, pelo Paso de Sico, fronteira um pouco acima de quatro mil metros de altitude. Caminho de rípia. Não há controle aduaneiro do lado chileno. Apenas uma placa cruzando a estrada nos atesta que entramos em outro país. A paisagem continua a mesma. Estamos no deserto do Atacama, o lugar mais seco do planeta, onde o solo é praticamente estéril devido à baixíssima umidade. Dentro da ONÇA, o higrômetro marcava 10% de umidade relativa do ar. Do altiplano sobressaem montanhas e vulcões por todos os lados. O solo, quase totalmente descoberto, tem vários tons de vermelho, amarelo e branco. Grandes manchas – formadas por sal, areia e lava vulcânica – se estendem por quilômetros, como grandes planícies brancas – os salares. O céu é azul turqueza forte. A vegetação se limita a poucos arbustos raquíticos e teimosos, espalhados aleatoriamente na terra árida. Viajamos em altitudes de 4 a 4,5 mil metros sob um sol forte e vento frio.
Essa inóspita região foi um centro estratégico para a economia dos países andinos no passado. Além de possuir importantes jazidas de cobre, extraía-se salitre dessas montanhas, uma mistura de nitrato de sódio e nitrato de potássio. Mistura criada no inferno, disse uma vez o escritor José Saramargo, tão dura era a vida dos milhares de homens, chilenos, argentinos, bolivianos e peruanos que aqui trabalhavam, onde a temperatura chegava a variar de 30 a -30 graus centígrados em um mesmo dia. O nitrato era matéria prima para a fabricação de fertilizantes e explosivos, fazendo crescer também o interesse de potências européias na região. No final do século XIX o Chile era o único país produtor de salitre em todo o mundo, e esta era sua principal fonte de divisas.
No final do século XIX, num conflito conhecido como Guerra do Pacífico, o Chile, país com melhor potencial econômico e bélico da região, financiado pela Inglaterra, atacou por terra e por mar o Peru e a Bolívia, com quem disputava o controle da região. O Peru perdeu parte do sul do seu território, a região de Tarapacá, no conflito para o Chile. A Bolívia perdeu a região de Antofagasta, sua única saída para o mar. Para os bolivianos, até hoje essa é uma questão dolorosa. Muitos dos problemas do país são atribuídos à falta de acesso ao mar. Nas últimas décadas, todos os presidentes bolivianos, inclusive Evo Morales, tiveram em suas plataformas políticas a retomada de negociações com o Chile para reaver o território perdido, objetivo esse inscrito na Constituição do país.
San Pedro é um oásis, em vários sentidos. A canalização de água que escorre de montanhas vizinhas transformou a terra esturricada em solo relativamente fértil. Numa cidade onde não há registro de chuva no último século, árvores de médio porte e arbustos estão presentes por todo lado. A cidade é uma Babel, com mochileiros falando em idiomas de todos os cantos do mundo, andando em procissão pelas suas ruas estreitas. Embora o ambiente geográfico seja parecido com o da cidade de Humahuaca, onde passamos alguns dias muito tranquilos, aqui o ritmo é de um acampamento base, apoiando andinistas em busca de aventuras na região. E aventura é o que não falta. Picos escaláveis em vários níveis de dificuldade, cadeias de montanhas com vulcões de água quente, vales com paisagens lunares, povoados indígenas isolados… poderíamos ter ficado aqui algumas semanas. Mas a viagem tem que continuar e seguimos.
Estíma-se que havia 40 mil trabalhadores nas minas de salitre nesta região, no início do século XX, dos quais 13 mil eram peruanos, bolivianos e argentinos. Esses trabalhadores moravam em abrigos das mineradoras, cujas condições de saneamento eram deploráveis. Àquela época, as mineradoras pagavam seus trabalhadores mensalmente com um punhado de fichas emitidas por elas mesmas, que só podiam ser descontadas em seus próprios armazéns e vendas.
Seguimos rumo norte. O deserto ao norte é ainda mais desolador. A paisagem achata, não se vêm mais as montanhas. Guiamos por centenas de quilômetros pela Ruta Panamericana ladeados por areia e pedras. Vento forte lateral.
Em 10 de dezembro de 1907 eclodiu uma greve na salitrera de San Lorenzo, que logo se espalhou para a salitrera de Alto San Antônio e várias outras na região de San Pedro de Atacama. Foi apelidada de a greve dos “18 pence” (18 centavos de libra esterlina) pois essa era a principal reivindicação dos grevistas: já que as mineradoras recebiam em libras pelo salitre bruto que eles extraíam, nada mais justo que pagarem a eles também em libras, e não em fichas.
De repente, uma surpresa. A Ruta Panamericana cruza o Rio Loa, no pequeno povoado de Quillagua, província de Tocopilla. Aqui o rio forma um oásis, esse sem o borburinho turístico de San Pedro de Atacama. Se para nós não é comum cruzar um deserto; cruzar um oásis no deserto foi uma experiência singular. Paramos, respiramos fundo, parecia que sentíamos a umidade entrando por todos os poros. Árvores de médio porte, arbustos, capim, hortaliças cultivadas, muitos animais, burros, cavalos, llamas, cachorros. Conversamos com moradores locais. Disseram que uma mineradora quilômetros acima está poluindo e desviando a água do rio. A única fonte de vida da cidade está sendo roubada. No Chile a água é propriedade privada, e não um recurso público, e a mineradora é a dona da água…Um morador se recorda que nos últimos quarenta anos, raramente choveu. Isto é, raramente fez que ía chover. A nuvem vertia água mas essa se evaporava antes de chegar ao solo. Bebemos água e partimos. Sempre para o norte, após 450 quilômetros de estrada, e ainda no deserto. Chegamos a Pica, uma cidade pequena e surpreendente, ao pé da cordilheira, 1.350 metros de altitude, na província de Iquique, região de Tarapacá. Pica tem 250 hectares irrigados com água que corre das montanhas, onde se planta laranja, limão, manga e goiaba. A cidade não parece ser pobre, mas isolada. Há muitas casas coloridas, com pomares nos quintais. A escola é grande e bem conservada. À noite, moradores com notebooks circulavam pela praça bem cuidada. A praça é wi-fi zone, gratuita. Alugamos por um dia uma pequena casa mobiliada, pelo preço de um hotel barato. Indicação de um morador na praça wi-fi. Passamos num supermercado e garantimos um bom vinho Tarapacá, não apenas nacional, mas também local. Preparamos um jantar como há muito não fazíamos e comemos num simpático jardim de inverno, virado para o quintal grande. A cidade adormeceu cedo e nós dormimos também. Um detalhe importante: a porta da casa não tem chave. Basta encostar. Calle Cordel, 270. Esse foi nosso endereço em Pica.
Em 18 de dezembro de 1907 milhares de trabalhadores em greve marcharam para Iquique, portavam bandeiras do Chile, Bolívia, Peru, Argentina. Queriam que o governo da província mediasse as negociações com as mineradoras. Os trabalhadores se alojaram na Escuela Domingos de Santa Maria, nos arredores de Iquique.
Ao deixarmos nossa casa alugada no dia seguinte, descobrimos que Pica é um balneário que atrai moradores da região. Encontramos várias piscinas públicas cheias de gente se divertindo. Ônibus com banhistas circulam pelas ruas. No deserto, brincar com água é a maior diversão.
Em resposta aos mineiros grevistas, o governo da província, com respaldo do governo central, cercou a escola em 21 de dezembro de 1907 e ordenou que todos retornassem aos seus postos de trabalho. Não foram atendidos. O comandante da tropa então liberou o massacre. Primeiramente, a escola foi bombardeada com conhões. Depois, a tropa invadiu e metralhou os sobreviventes. Mulheres e crianças não foram poupadas. Mais de 3 mil pessoas foram assassinadas cruelmente naquela tarde. O governo ordenou não emitir atestado de óbitos. Os mortos foram enterrados em valas comuns e essa história não foi contada nas escolas chilenas.
Seguimos para Arica, situada no extremo norte do Chile, na fronteira com o Peru. Sempre descendo, finalmente deixamos o deserto para trás até avistar o Pacífico pela primeira vez nesta viagem. Arica é uma cidade portuária, zona franca, cerca de 200 mil habitantes, grande para os padrões da região. Tem um comércio popular intenso, com sacoleiros por todos os lados, ruas estreitas, carros e gente misturados na rua. De repente: um susto. Um menino, saído do nada, atravessou a frente da ONÇA. Estávamos a uns 20 quilômetros por hora e acertamos em cheio o garoto, que se espatifou no meio da rua. Juntou uma pequena multidão em torno da ONÇA. Mas todos parecem que entenderam, inclusive o menino, que foi um acidente. Se levantou dizendo que estava bem. Quisemos levá-lo a um pronto-socorro, mas ele se recusou e sumiu no meio da multidão. Um transeunte disse que o garoto não ía fazer queixa alguma, que tudo estava bem e que o melhor era irmos embora. Partimos.
Em 2007, quando a matança completou 100 anos, Michelle Bechelet, presidente chilena, ordenou que os corpos fossem exumados e enterrados em um memorial contruído no lugar do crime.
Passamos alguns dias acampados numa praia nos arredores de Arica, explorando à pé a região. Depois de tanto deserto, ver o sol se por nesse mundo de água e respirar oxigênio farto a beira mar era tudo o que queríamos. E com as ondas frias do Pacífico quebrando em nossos pés, entre um pescado frito e uma cerveja gelada, terminamos a etapa chilena de nossa viagem.
- Flamingos no Deserto de Atacama
- Igreja no Deserto de Atacama
- Geóglifos ao longo da Ruta Panamericana
- Sol e água quente
- Ruta Panamericana
- Oásis no Deserto de Atacama
- Oásis no Deserto de Atacama
- Calama
- Salar no Deserto de Atacama
- Paso de Sico
ARGENTINA
Em Foz do Iguaçu cruzamos a fronteira com a Argentina, trocamos reais por pesos a 2:1 e entramos na terra de Maradona. Nossa expectativa era uma rigorosa inspeção na aduana, guardas, exigências de cambão, dois triângulos, caixa de primeiros socorros, seguro contra terceiros e tantas outras coisas que oficialmente são exigidas de turistas estrangeiros para transitar por aqui. Que nada! O guarda da aduana nem olhou na nossa cara. Inspecionou o passaporte, carimbou e “buena viaje”. Não durou um minuto esse processo. Foi um pouco frustrante. Nossa primeira fronteira… fizemos a lição de casa direitinho mas ninguém quis ver. Será sempre assim, perguntamos a nós mesmos. Infelizmente, não. Mais adiante na viagem sentimos saudades dessa tranqüilidade.
Pegamos a “Ruta Nacional 12”, que não deixa de ser uma continuação da BR-469 que nos trouxe até Foz, e seguimos rumo a Corrientes. A estrada margeia o rio Paraná por toda a fronteira com o Paraguai. No dia seguinte pegamos uma longa e penosa estrada até chegarmos a Salta, capital da província de mesmo nome.
Na medida em que nos deslocávamos para o norte, mais e mais a paisagem se transformava, até que em Salta entramos na Puna, altiplano árido que abrange o extremo noroeste argentino, norte do Chile, sul da Bolívia, se estendendo até o extremo sul do Peru.
Salta é uma cidade grande, com quase 400 mil habitantes, 1.350 metros acima do nível do mar. Passamos alguns dias na cidade andando por suas praças e experimentando meticulosamente uma infinidade de diferentes tipos de empanadas salteñas. Exquisitísimas! O vinho bom é barato, o que deixou as empanadas ainda mais saborosas. Visitamos o surpreendente “Museu Argentino de Alta Montanha”, passeamos pela feira de rua sob uma inesperada chuva forte.
No Museu, uma visão e uma história surpreendente. Os corpos mumificados de duas crianças e uma adolescente, encontrados há dez anos no topo do Vulcão Llullaillaco, perto da fronteira com o Chile, estão lá depositados. As Múmias de Llullaillaco, como são chamadas, foram sacrificadas há 500 anos, mas seu estado de conservação é tamanho que parecem estar prestes a acordar a qualquer momento. Foram encontradas a quase sete mil metros de altitude por uma expedição de arqueólogos argentinos e de outras nacionalidades, que partiu de Salta em 1999. No auge da civilização inca crianças de várias comunidades eram levadas por suas famílias para Cuzco, o centro do império. Lá, em cerimônias religiosas, as mais bonitas e inteligentes eram escolhidas e levadas à pé por centenas de quilômetros até o topo das mais altas montanhas, onde em trajes de festa eram alcoolizadas com uma bebida feita do milho e, já em coma, depositadas em covas com seus brinquedos e alguns alimentos. Para nós, estarrecidos com essa história cruel, elas morreram de frio e hipóxia no topo do Llullaillaco. Para as suas comunidades elas não morreram, ao contrário, se imortalizaram, foram se encontrar com os deuses e pedir fertilidade e boa colheita para suas aldeias. Conversamos sobre essa história com um descendente inca numa praça de Salta. Ele insinuou que há dezenas de outras múmias na Puna, em lugares sagrados, mantidos em segredo pelas comunidades indígenas.
Após alguns dias em Salta, partimos para explorar as terras altas da Puna argentina. Subimos norte em direção à Quebrada de Humahuaca. Após passar pela cidade de San Salvador de Jujuy, o caminho é formado por 170 quilômetros de sucessivos vales à beira do Rio Grande, margeados por montanhas altas e coloridas por diferentes minérios, até bem próximo da fronteira com a Bolívia. Muitos marrons e vermelhos, amarelos, verdes, roxos, preto. No caminho visitamos diversos povoados: Leon, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Uquia. Essa região foi declarada “Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade” pela UNESCO.
Paramos em Humahuaca – 8 mil habitantes, quase três mil metros de altitude – onde passamos três dias. As ruas são estreitas, empoeiradas, com calçadas de pedra. As casas têm paredes grossas e coloridas, de adobe. O ar é frio, seco, rarefeito. Crianças de rostos índios e felizes brincam na praça central. Este é um antigo assentamento indígena, os Omaguacas. Suas tradições estão em toda parte.
Perdemos um pouco a noção do tempo em Humahuaca. O sol do meio dia é forte de deserto. A luz é intensa. O tempo anda devagar. Não há sinais do século XXI. Parece que as coisas sempre estiveram e estarão lá como sempre. Paramos numa pousada simpática, cuja dona era bonita. No primeiro dia deixou nosso café da manhã na porta do quarto e se foi. No segundo, bateu na porta, entrou, deixou o café na mesa e saiu. No terceiro dia entrou sem bater, sem café e sem roupa; deitou na cama ao lado e adormeceu sorrindo. Justo agora que nos acostumamos com a altitude, perdemos o fôlego com essa visita inesperada e embaraçosa.
No dia seguinte saímos cedo de Humahuaca, sem café, retornamos pela Quabrada até Purmamarca, na Serra das Sete Cores, viramos oeste e subimos uma imensa cadeia de montanhas. Belíssima e dramática subida até 4.200 metros. Daí descemos para Salinas Grandes, a 3.400 metros e pegamos um longo caminho de rípia rodeando um salar, ermo, seco, com isoladas casas de adobe raras na paisagem desoladora. Foram infinitos 150 quilômetros que nos levaram a San Antônio de Los Cobre.
Este trecho judiou demais da ONÇA e da nossa coluna. Tivemos nosso primeiro problema mecânico da viagem. Dois amortecedores se danificaram. Até aí, tudo bem. A ONÇA estava estável e continuamos sem problema, pensando em trocar os amortecedores danificados, mais à frente, por um par sobressalente que trouxemos. Mas, lá pelo meio do trecho, o carro começou a “puxar” para a esquerda, e isso foi se acentuando cada vez mais ao longo de alguns quilômetros. Paramos para verificar o que acontecia. A roda dianteira direita tinha um jogo estranho. Levantamos o carro com o hi-lift e… percebemos que tínhamos perdido um dos dois parafusos do garfo superior (e o outro estava frouxo), que mantêm a roda presa e o carro alinhado. O lugar que o parafuso que sobrou tinha um acesso muito difícil. Apertamos o parafuso da melhor maneira que pudemos e seguimos com todo cuidado até San Antônio.
San Antônio de los Cobres é o que sobrou de um povoado que se formou em torno de uma antiga mineração de cobre e prata. Isolada e perdida, com seus dois mil habitantes, 3.700 metros acima do nível do mar. É incrível como em um só dia a paisagem mudou de forma tão radical. A profusão de cores e vida da Quebrada de Humahuaca terminou. Aqui tudo é de um tom pastel, empoeirado. As casas são pequenas e pobres. As ruas são de terra. O sentimento é de desolação.
Conseguimos encontrar um mecânico em San Antônio. Juntos trocamos os amortecedores, desmontamos e recolocamos a roda que quase se soltou algumas horas atrás, e tudo pareceu que voltou ao normal.
Passada a tensão com os problemas da ONÇA, aproveitamos o resto da tarde para andar um pouco pelo povoado e conversar com pessoas do lugar. Posto de gasolina é um ótimo lugar para bater papo. Sempre tem alguém que se aproxima puxando conversa.
O céu da Puna é famoso. Em San Antônio a altitude, a pouca umidade, a quase ausência de luz artificial e esse ambiente lunar deixam o céu ainda mais deslumbrante e enigmático. Será que tem alguém nos vendo do outro lado do universo? Naquela noite sentimos que sim. Sim, não estamos sozinhos. Seria um grande desperdício de espaço.
Na manhã seguinte deixamos San Antônio pelo Paso de Sico, longo caminho de ripia que nos levou para o Chile. Vivemos uma outra Argentina, sem tango, sem infelices ilusiones, sem empáfia portenha. E ainda assim, cheia de gente simples mas orgulhosa de sua cultura e tradições.
- Entrando na Argentina pela Ruta Nacional 12
- Corrientes
- Humahuaca
- Humahuaca
- Humahuaca
- Quebrada de Humahuaca
- Quebrada de Humahuaca
- Quebrada de Humahuaca
- Quebrada de Humahuaca
- Quebrada de Humahuaca
- Quebrada de Humahuaca
- Quebrada de Humahuaca
- subida para San António de los Cobres
- San António de los Cobres
- San António de los Cobres
- menina no Paso de Sico
FOMOS
Sexta-feira, 18 horas, fim de expediente. Finalmente cumprimos nosso último compromisso de trabalho antes da viagem. Agora serão 60 dias de estrada pela frente. Ao chegar em casa a ONÇA estava lá, na garagem, preparada, com toda nossa bagagem, só faltou abrir as portas e nos engolir.
Durante a noite foi difícil dormir. Aliás, não dormimos nada. Ficou passando um filme, mostrando a preparação da viagem numa cronologia confusa. As primeiras idéias, os trâmites para embarcar a ONÇA no Equador, a situação política em Honduras, os cuidados com a altitude no Peru, os conflitos entre narcotraficantes na fronteira do México com os Estados Unidos…
Dia seguinte, cinco horas da manhã, escuro ainda, saímos de casa para iniciar a maior aventura de nossas vidas (até agora).
Nosso plano era, de Campinas, entrar na Argentina por Foz do Iguaçu, sem correria, fazendo o trajeto em dois dias. Mas, depois de tantos meses de preparo a ansiedade era tanta para finalmente sair viajando que foi difícil parar. Fomos indo, indo, indo, e, quando nos demos conta, já estávamos em Foz. Foram 12 horas de direção, parando apenas algumas vezes para abastecimento (e desabastecimento também) e um café. Tudo o que não se deve fazer, logo no primeiro dia. Mais adiante, fomos encontrando nosso ritmo de viagem, mesclando dias de deslocamento de 4 a 8 horas de direção com dias de descanso, explorando, muitas vezes a pé, a região.
VAMOS PARA OS EUA DE CARRO…
– Vamos tirar férias?
– Sim.
– Vamos para os Estados Unidos?
– Sim!
– Com a ONÇA?
– SIM!!! Claro.
Foi assim que a idéia surgiu. Brotou. Espontânea. Óbvia. Cada um faz o que quer (e o que pode) no seu tempo livre. Nós, juntando daqui, juntando dali, conseguimos reunir dois meses de férias para a viagem.
Se o critério fosse viajar com segurança, conforto, rapidez e economia, teríamos ido de avião, como todo mundo. Mas, viajar para os Estados Unidos era só um pretexto para conhecermos lugares, pessoas e costumes; os sabores, as dores e os odores da América Latina.
Continuidade. É esse o diferencial de uma viagem de automóvel. Da janelinha nós queríamos ver passar toda a sutileza da transição entre o cerrado e o charco, o charco e a puna, a puna e o altiplano, o altiplano e o mar. Queríamos ver como o deserto se transformava em floresta, como o vento quente ía esfriando até nos congelar, como casas ricas davam lugar a casebres paupérrimos. Queríamos ver os europeus de pele branca se misturando aos poucos com os índios de pele vermelha, com os orientais de pele amarela, com os africanos de pela negra. Tudo mudando, se interpenetrando, tenuemente, delicadamente, ao longo de 20 mil quilômetros. Absolutamente diferente de pegar um avião em São Paulo e descer em Nova Iorque.
Uma viagem como essa precisa de preparação. E põe preparação nisso! Começanos trocando idéias com amigos off-roaders que já navegaram em trechos por onde passaríamos. Depois, reunimos um grande número de guias turísticos e mapas rodoviários cobrindo os países do trajeto. Na web, conseguimos muito material: mapas, comentários, dicas, sugestões, além de uma base roteável para GPS, muito detalhada, cobrindo todo o território da Argentina e do Chile, bem como parte do Peru. Juntando as informações obtidas nessas inúmeras fontes, escrevemos um roteiro com os caminhos, a quilometragem e os possíveis locais de parada a cada dia da viagem, descrevendo o que imaginamos que seria o nosso dia-a-dia. Além disso, fizemos contato com todas as embaixadas dos países envolvidos, verificando e preparando a documentação necessária para a entrada em cada país do trajeto.
Esse processo nunca termina. Quanto mais nos preparamos, mais coisas vão aparecendo, mais possíveis empecilhos são antevistos, mais percebemos que é impossível preparar e controlar tudo, que o imponderável está aí rondando. Então, como diz uma amiga nossa, chega uma hora que a gente tem que jogar tudo dentro do carro, fechar a porta e partir…
COMO A COISA CONTINUOU
Recém chegados ao mundo off-road, começamos nosso aprendizado fazendo os fundamentos do fora-da-estrada na região sudese: incontáveis trilhas pelas serras da Mantiqueira, Bocaina, Canastra e também pelo Pantanal Matogrossense. Foi assim que começamos a lidar com o guincho, o macaco hi-lift, o cambão, a reduzida, o bloqueio de diferencial, o rádio VHF, a areia, a rocha, o cascalho, a lama, a transposição de riachos, as valas, os facões, os aclives acentuados, os declives, as inclinações laterais, as técnicas de ancoragem, a patesca, os pneus mud, os faróis auxiliares, a geladeira portátil, os tanques de combustível extra, a caixa de ferramentas, as peças de reposição,o GPS, os mapas roteáveis, o telefone satelital. Tem muita coisa para aprender. Rodamos 30 mil quilômetros fora-da-estrada nessas regiões e sentimos que somos novatos ainda.
Mas nos aventuramos um pouco mais longe. Queríamos aprender a andar na lama, mesmo. E aí, não tem escola melhor que a BR-319 e a Rodovia Transamazônica no mês de março. Antes é impossível, só passa de barco. Depois é sem graça. Tem que ir em março.
Águas de março! Pegamos a “enchente do século” na Amazônia em março de 2009. Que sufoco. Sobrevivemos. Foi lá que nosso carro cresceu, amadureceu, ganhou personalidade e foi batizado: ONÇA pintada, o maior felino brasileiro, que vive na Amazônia.
A ONÇA é uma camionete quatro por quatro. Nela instalamos um guincho elétrico, que pode ser mudado do para-choque dianteiro para o traseiro, conforme a necessidade. Trocamos os pneus mud originais por um jogo “todo terreno”. Substituímos os amortecedores originais dianteiros e traseiros por outros bem mais resistentes à compressão e à expansão. Instalamos rádio VHR, GPS e um sistema de telefonia móvel via satélite. Também, dois faróis de milha auxiliares. Colocamos uma capota na caçamba para melhor proteger a bagagem, uma bateria auxiliar pra tocar os novos acessórios elétricos, reservatório para 40 litros adicionais de diesel, ligado ao tanque original por uma bomba elétrica de sucção. Finalmente, instalamos uma barraca de teto para as noites frias nas montanhas. Na caçamba levamos um kit cozinha básico e uma geladeira portátil.
COMO A COISA COMEÇOU
Durante uma década, a Rita e eu sonhamos construir uma casa de campo, nem tão longe, nem tão perto, para fugir de Campinas nos finais de semana. Quando finalmente conseguimos um terreno e algum dinheiro para o projeto surgiu um problema. O lugar era muito complicado. Para chegar onde seria nossa casa tínhamos que transpor uma pirambeira de terra na encosta de um morro, que quando chovia muito era intransitável pra um carro normal, desses que gente comum tem pra trabalhar, levar menino na escola, visitar os amigos.
Mas sonho é sonho. Não desistimos. Compramos uma camionete quatro por quatro para levar o material de construção pirambeira acima e iniciar a obra. Este foi o pecado. Aos poucos fomos sentindo que pegar a estradinha de terra, vencer os buracos, a lama, os aclives, subir e descer pirambeira de terra que chegava a 30 graus de inclinação dava muito mais prazer do que construir e desfrutar a tão sonhada casa de campo.
A obra acabou antes de terminar. Casa não sai do lugar. Para que duas? Abortamos o projeto, caímos na estrada e dela não saímos até hoje.
DEDICATÓRIA
Esta viagem foi dedicada a Aimberê, Guayxará, Tupac Amaru, Atahualpa, Montezuma, Emiliano Zapata, Gregório Bezerra, Zumbi de Palmares, Anita Garibaldi, Salvador Allende, Augusto César Sandino, Joaquim José da Silva Xavier, Ernesto Che Guevara, Dinalva Oliveira Teixeira, John Christopher Brown, Luiz Gonzada das Virgens, Oswaldo Orlando da Costa, João de Deus, Agustin Farabundo Martí Rodrigues, Ana Romana, Líbero Castiglia, Domingas Maria do Nascimento, José Brigg, Cristiano Cordeiro, Simon Bolívar, José de San Martín, José Gervásio Artigas, Miguel Hidalgo y Costilla, David Capistrano da Costa, Marín Iquin, Antônio José Sucre, Maurício Gabrois, Camilo Cienfuegos, Haydeé Santamaría, Carlos Mariguella, Pancho Villa, José Feliciana Ama, Eris Cabrera, Elza Monnerat e todos os outros que, de uma ou de outra maneira, a seu modo, lutaram por uma América livre.